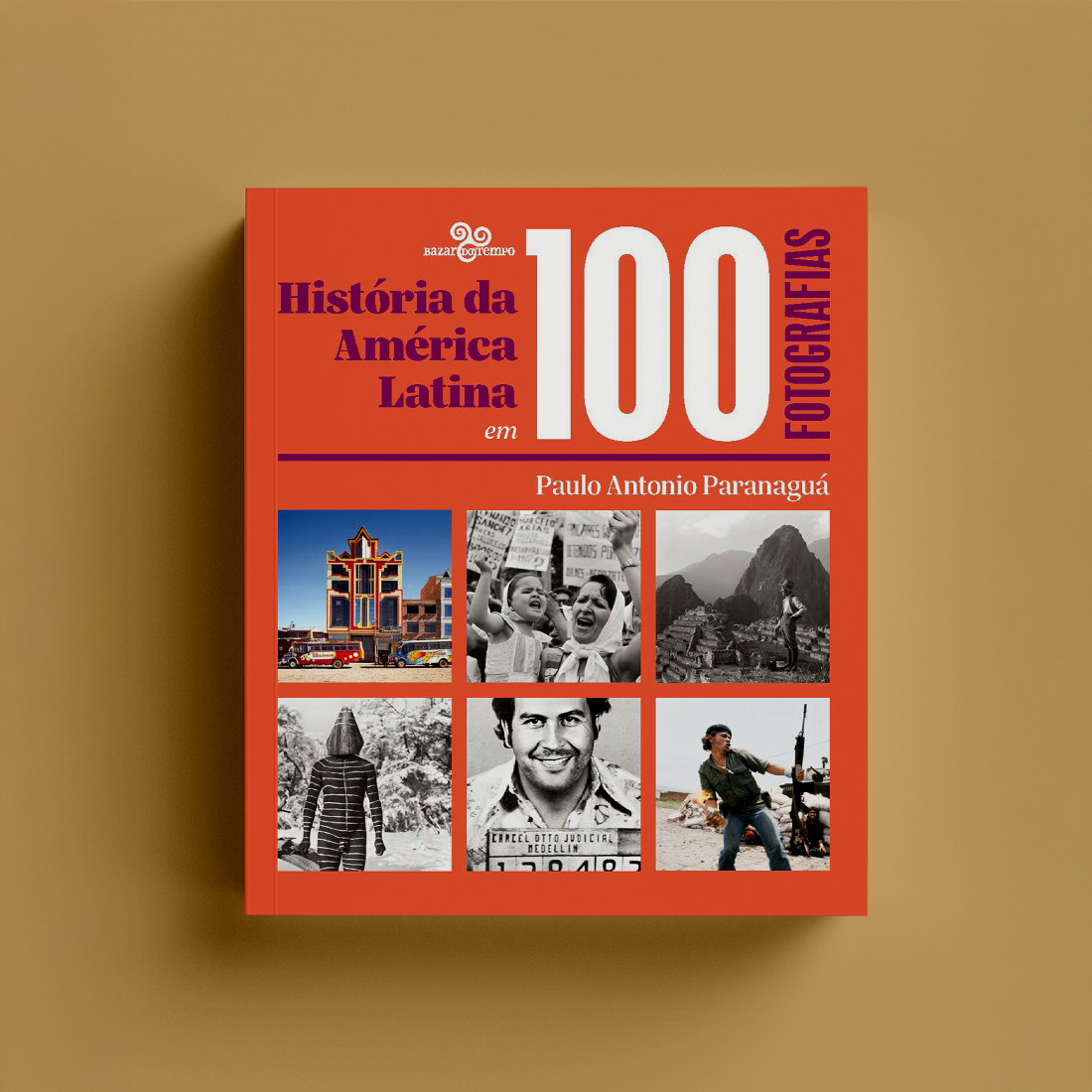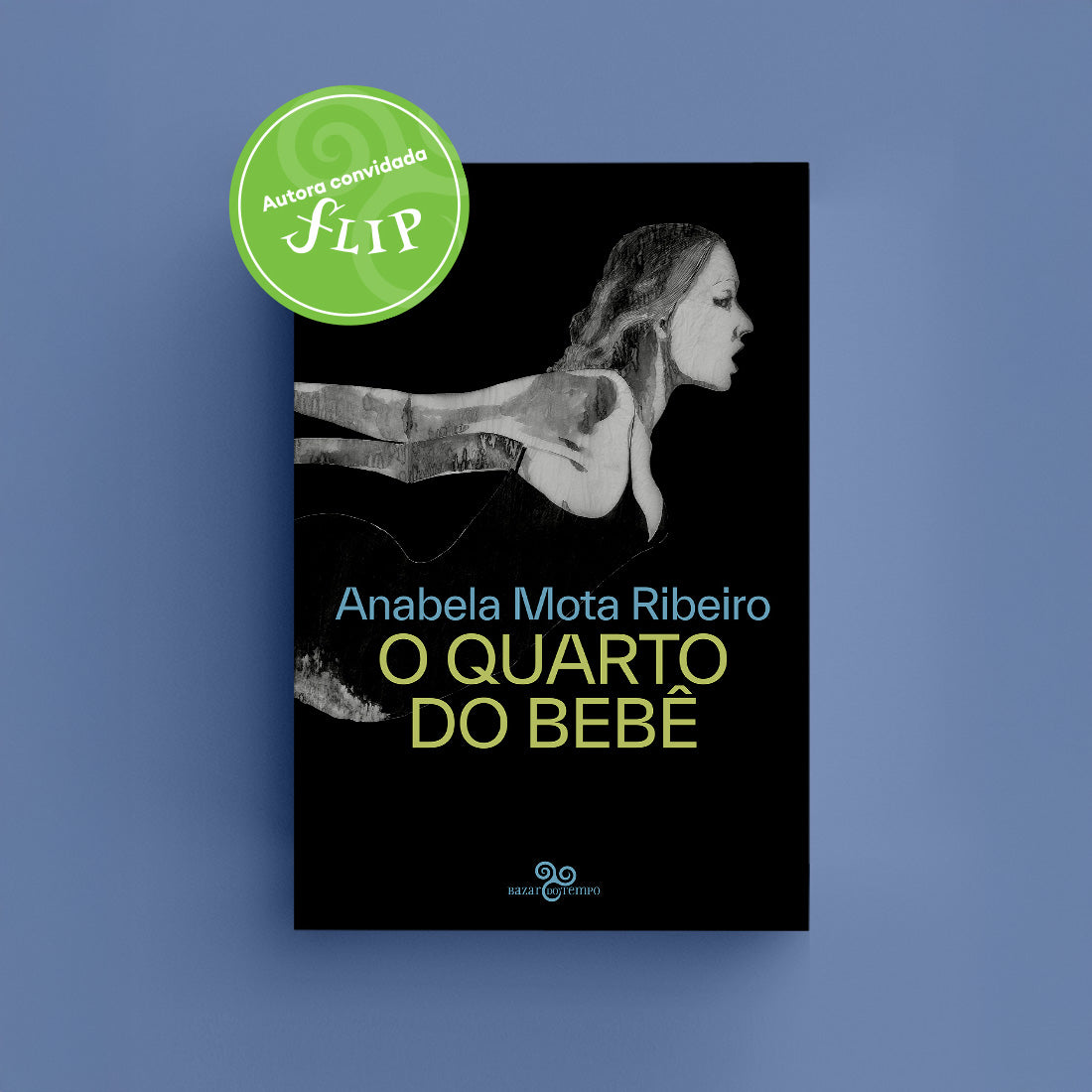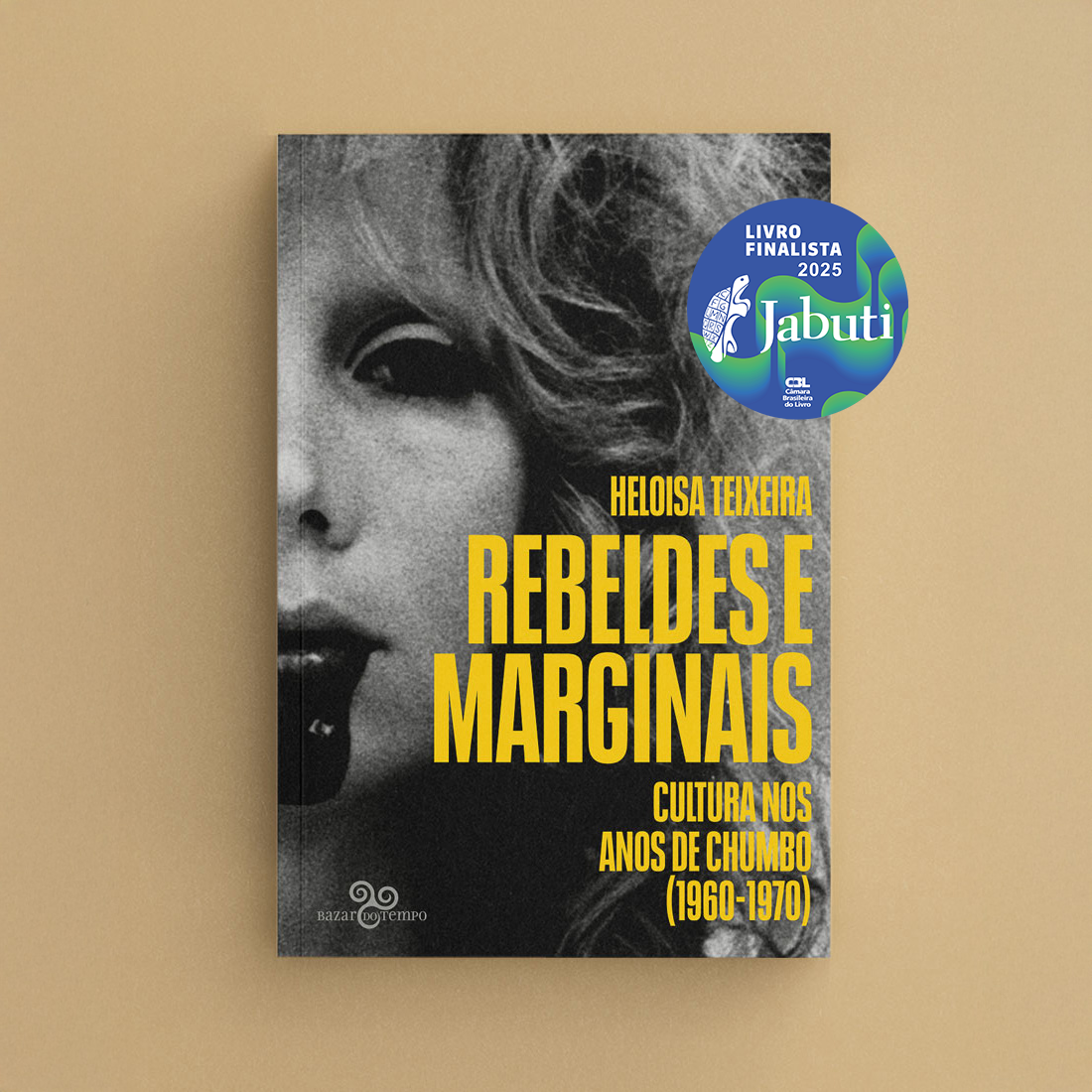Por Marcella Franco
 Corina, avó da autora.
Corina, avó da autora.
Minha bisavó materna mantinha os cabelos escuros sempre presos em um coque, e sua feição exibia a mesma energia dos fios: tensa, repuxada, por um triz. O que sei de sua aparência vem das fotos guardadas nas muitas caixas de retratos da família, e especialmente das duas imagens dela que tenho expostas na minha penteadeira. Não nos conhecemos, porque ela morreu sete anos antes do meu nascimento. Forjei, então, a sua personalidade por meio das histórias que ouvi a vida inteira, nas quais minha bisavó era invariavelmente intratável e ranzinza.
Seus poderes mediúnicos, identificados ainda na juventude, seriam a causa da desgraça de toda a família. Ela podia muitas coisas, dizem, desde benzer doentes até prever catástrofes, mas conservava o dom adormecido porque, numa casa católica, não era de bom tom se comunicar com os mortos. Ignorar o presente divino, no entanto, na crença dos Azevedo Mastrotti, levaria suas gerações seguintes ao infortúnio. Se fomos todos infelizes ao longo desse tempo, foi porque a mesa branca de bisa Corina nunca operou de verdade.
Corina se casou aos 18, enterrou o pai aos 19, e foi mãe de minha avó aos 20. Não sei se era de festa ou mais calada, se bebia ou se dançava. Quando chegava o fim do ano, também não sei se gostava de reunir os dois filhos para comer bem, se lhes comprava presentes e botava roupinhas de festa. O que é notório é que foi num dia de Natal, em 1973, que minha bisavó Corina morreu, nove anos depois de enviuvar também num 25 de dezembro. Aos 68 anos, Corina levou consigo a cara amarrada, as faculdades espirituais e centenas de histórias que eu gostaria de ter ouvido ela mesma contar.
A morte primeiro do pai, e depois da mãe em uma terça-feira natalina, fizeram com que minha avó ameaçasse decretar que, nessa família, os natais nunca mais seriam celebrados. Corina, batizada em homenagem à mãe e à avó, a terceira de uma linhagem que atravessou um século, ainda perderia um filho poucos anos depois, na mesma época, o filho favorito entre nove, jovem e muito parecido com ela. Tio Zé foi, assim, a gota d’água.
Aos poucos, com a chegada da velhice e dos netos, minha avó flexibilizou o decreto. Seguiríamos sem noite de Natal, mas, em nome das crianças e da alegria delas, aceitou abrir as portas de casa todo dezembro para receber a falange de quase trinta parentes ávidos pelos presentes debaixo da árvore, mas sobretudo pelo banquete que ela se empenhava em preparar.
Aves, massas, carnes recheadas, saladas, infinitas sobremesas. Pratos complexos e saborosos que demandavam dela e de ajudantes muitas horas, quiçá dias, de profunda dedicação e carinho. Foi Corina quem me ensinou que o segredo do pavê e da ambrosia sem cheiro de ovo é remover a película que envolve a gema, puxando uma a uma, para depois ainda passar tudo por uma fina peneira.
Minha avó odiava o Natal porque, em sua convicção, ele lhe havia tirado a mãe, o pai e um filho, mas se dispôs a hospedá-lo em nome do contentamento dos outros. Ainda assim, em nossa profunda insensibilidade, nós, os outros, por vezes nos indignávamos com seu “mau humor” diante das panelas, alimentos, pilhas de louça, crianças, agregados, o caos. Não só não reconhecíamos a concessão amorosa de, em nosso nome, enfrentar a tradição da tristeza, como também zombávamos de sua irritação e ansiávamos por uma mulher satisfeita, e não esgotada.
Como minha avó e bisavó, muitas vezes vivo tensa e por um triz. Não herdei os dons mediúnicos nem o mesmo nome, mas me orgulho do nariz adunco idêntico ao delas, enquanto também lamento nossa melancolia patológica compartilhada. Não fui atravessada pelas mortes trágicas, felizmente, mas meu único filho criei sozinha até seus dez anos de idade – talvez pela danação histórica de nossa estirpe, talvez por simples irresponsabilidade do pai, que nos deixou em questão de meses.
Haveria, deste modo, licença poética e hereditária para rejeitar o fim de ano. Ignorá-lo, reduzi-lo. Por sorte, fiz meus lutos e me desprendi a ponto de me conceder o direito de escolher a história que quero para mim. O Natal com meu filho, mesmo em nossos anos mais solitários, foi sempre envolto em magia e deleite.
Há 17 anos ouvimos a mesma playlist, e rimos dos mesmos trechos, das mesmas músicas. Nos anos bons, enchemos a barriga de comidas típicas, enquanto naqueles mais complicados dividimos guloseimas bobas, com cara de contravenção. Teve ano de pacotes gordos debaixo da árvore, teve ano feito só de abraços e chamegos grátis.
De uma tradição, no entanto, não abrimos mão: todo dia 25 de dezembro, uma meia lotada de bugigangas amanhece disposta diante da cama dele, e nos sentamos juntos para admirá-la. Cada coisa vem embrulhada em pacotinhos individuais, e são longos minutos para abrir uma a uma, com a mesma paciência e amor com que eu despelava as gemas décadas atrás sentada ao lado de minha avó na cozinha.
Nunca soubemos como elas fazem para, ano após ano, rechear e nos entregar as meias sem que as vejamos, mas é fato que até hoje nunca houve um Natal em que as Corinas não se tenham feito presentes.
Marcella Franco é jornalista e escritora, autora do livro Solo, que será lançado em 2026 pela Bazar do Tempo.