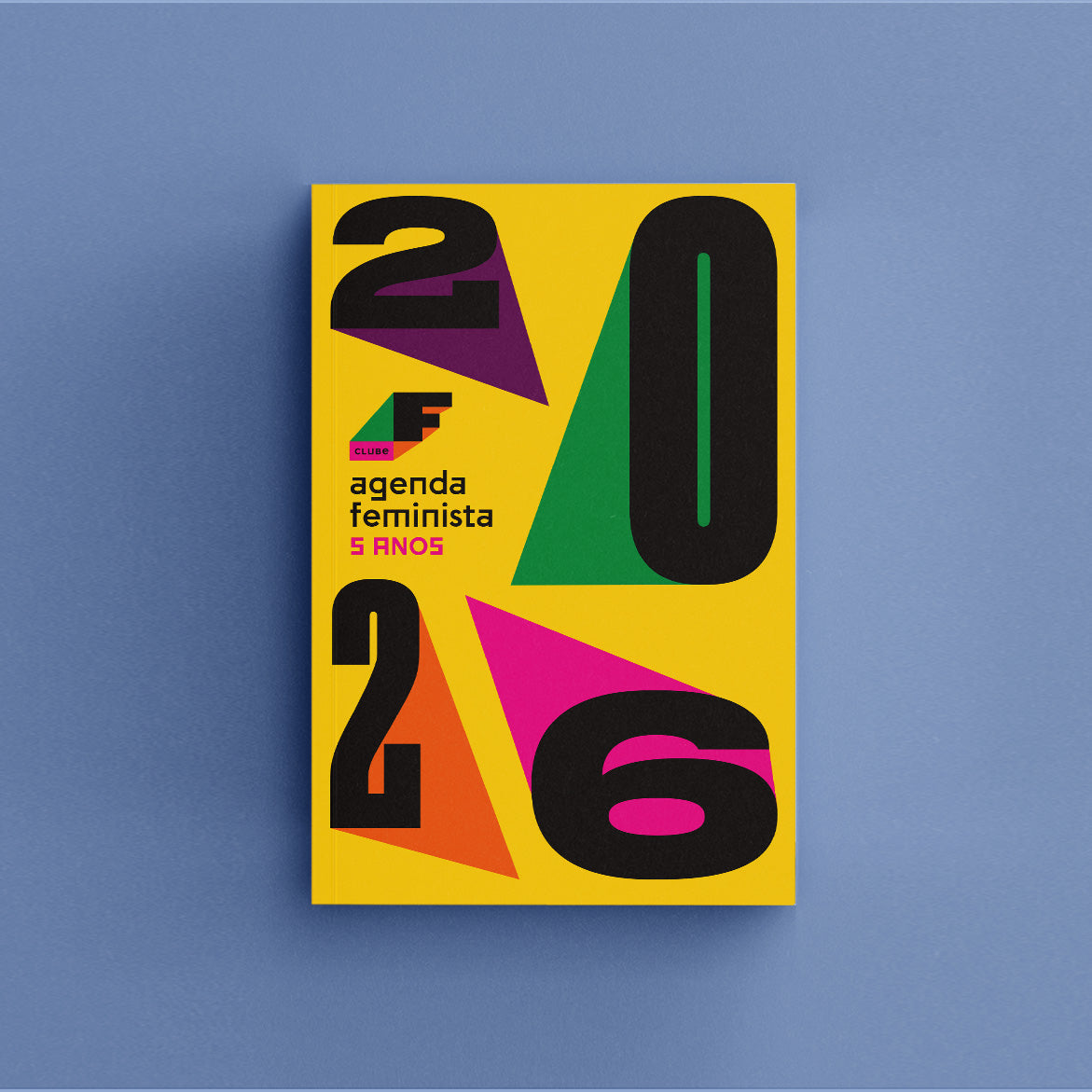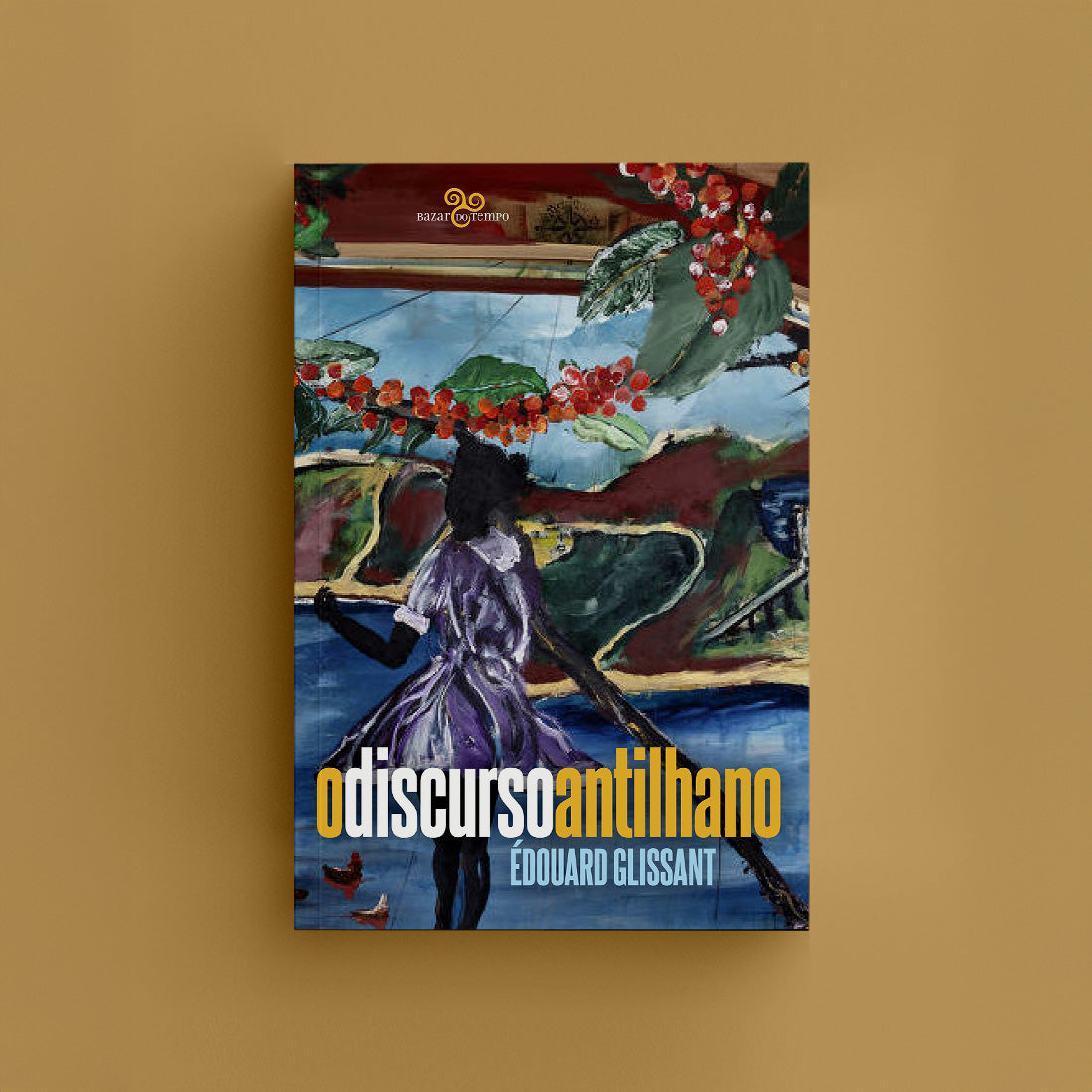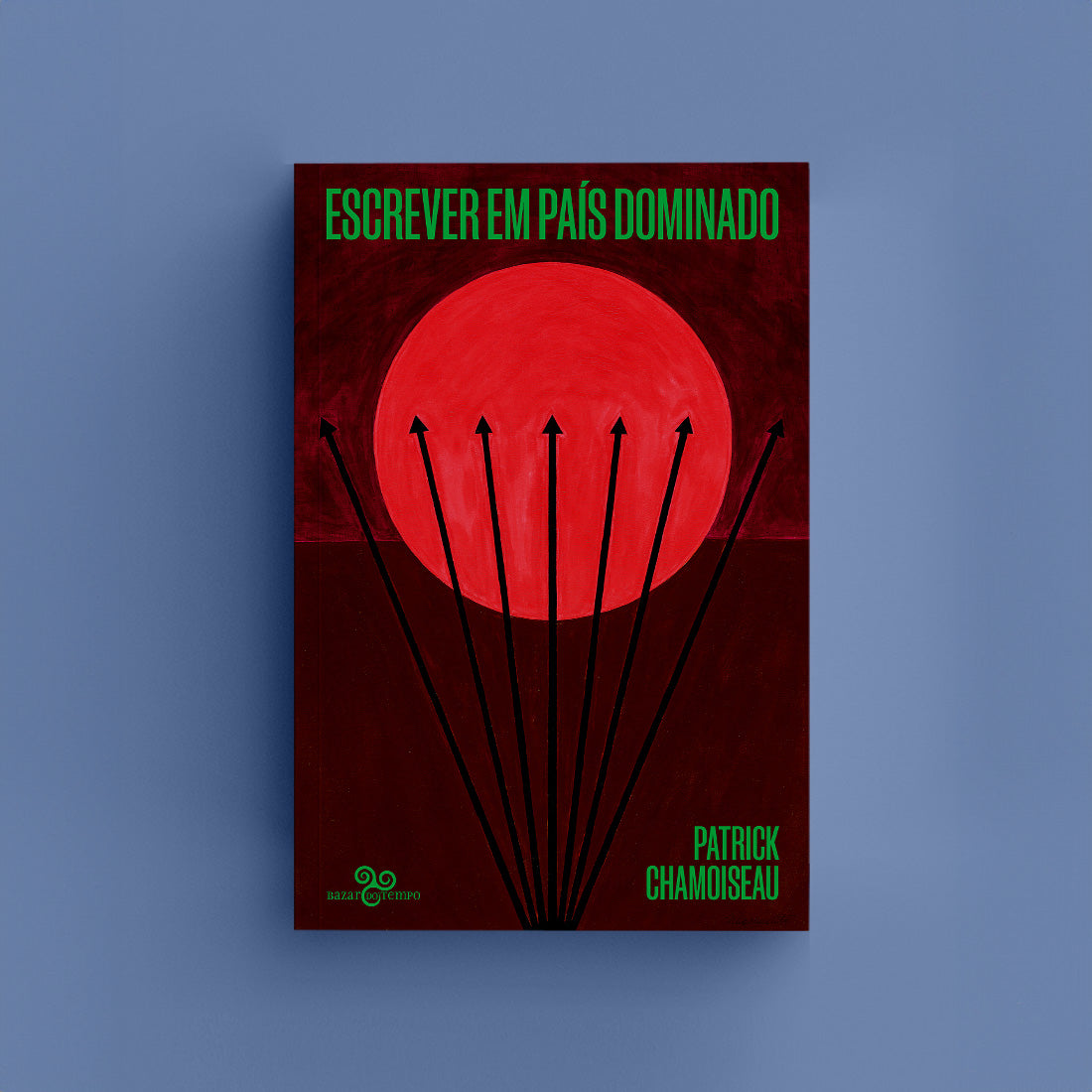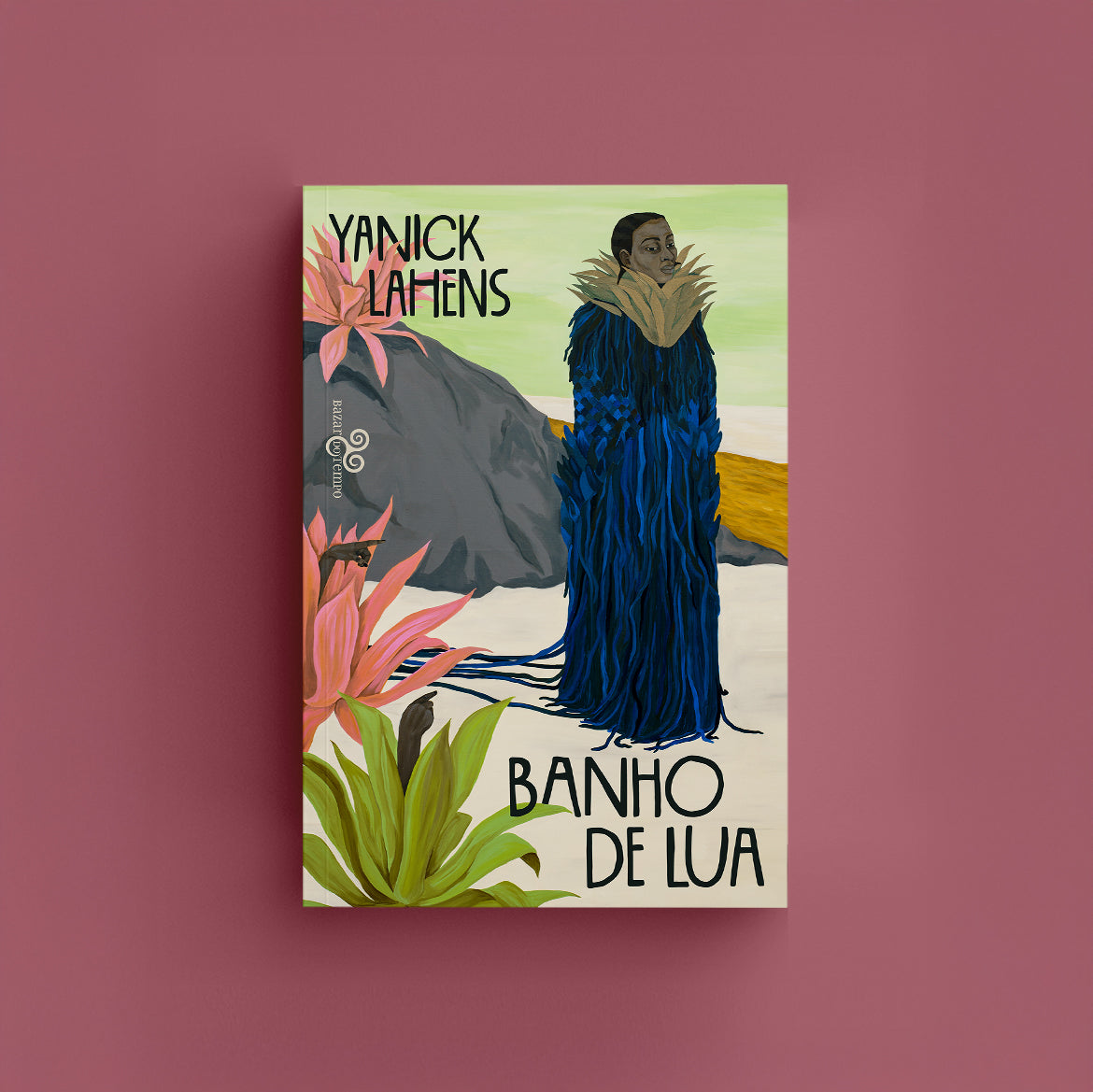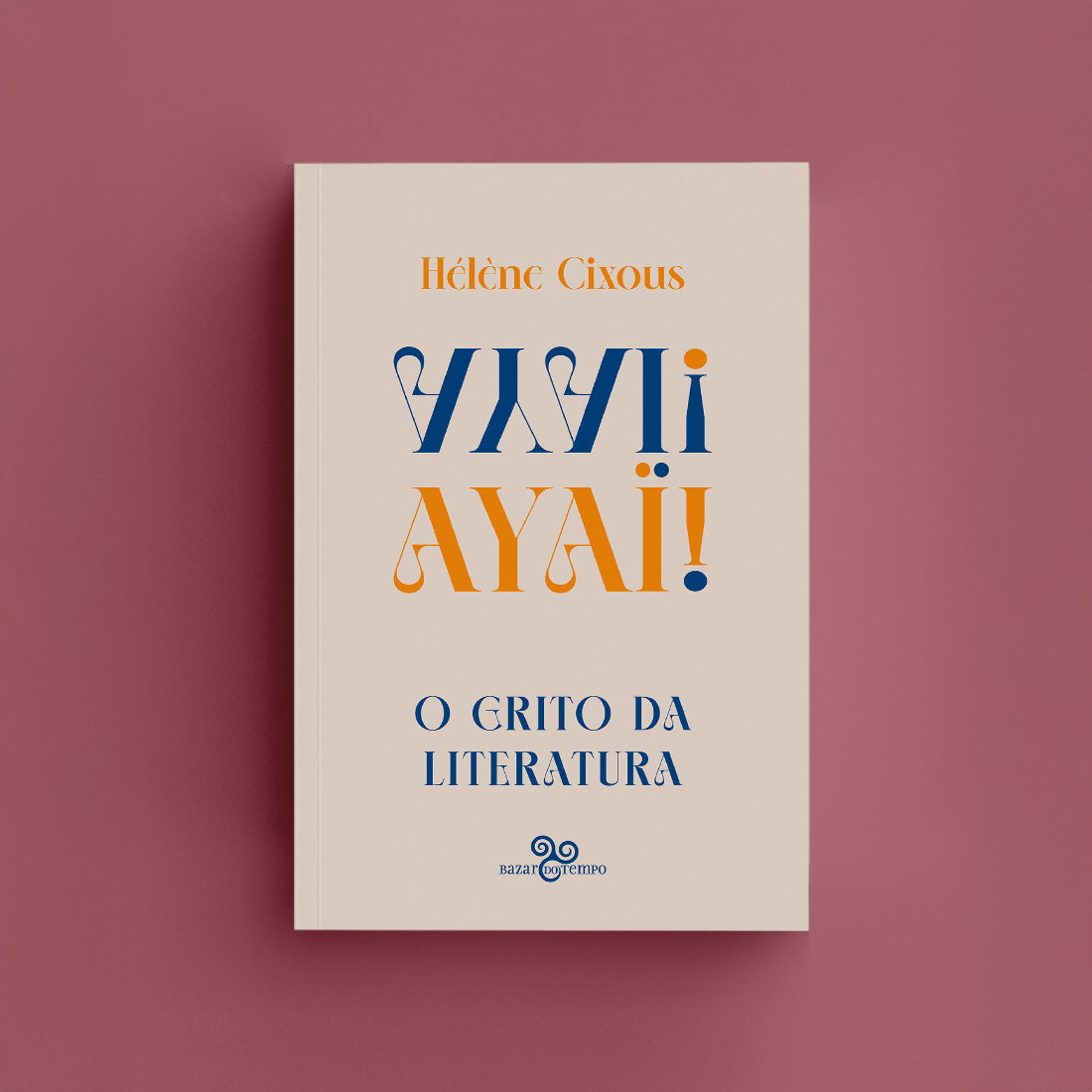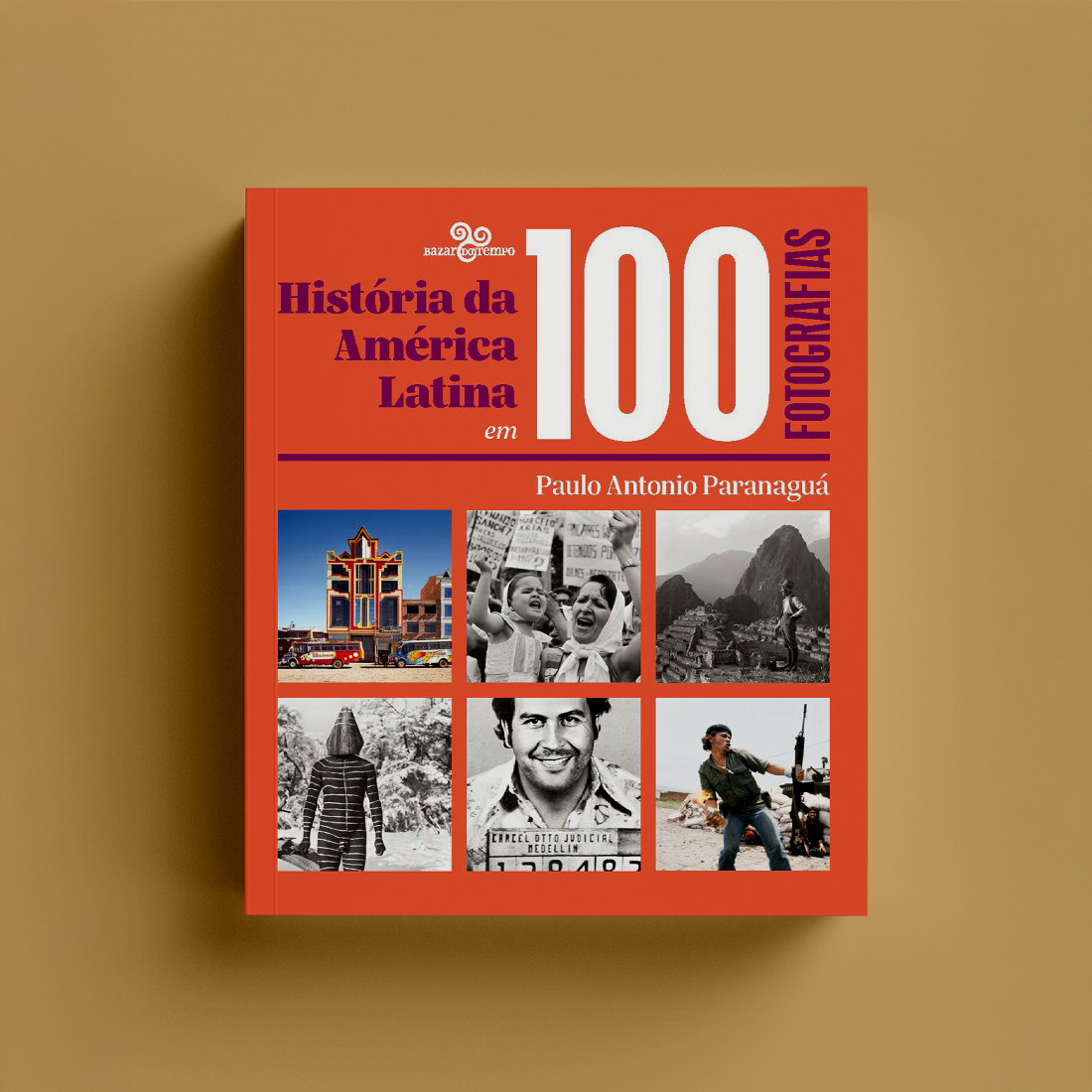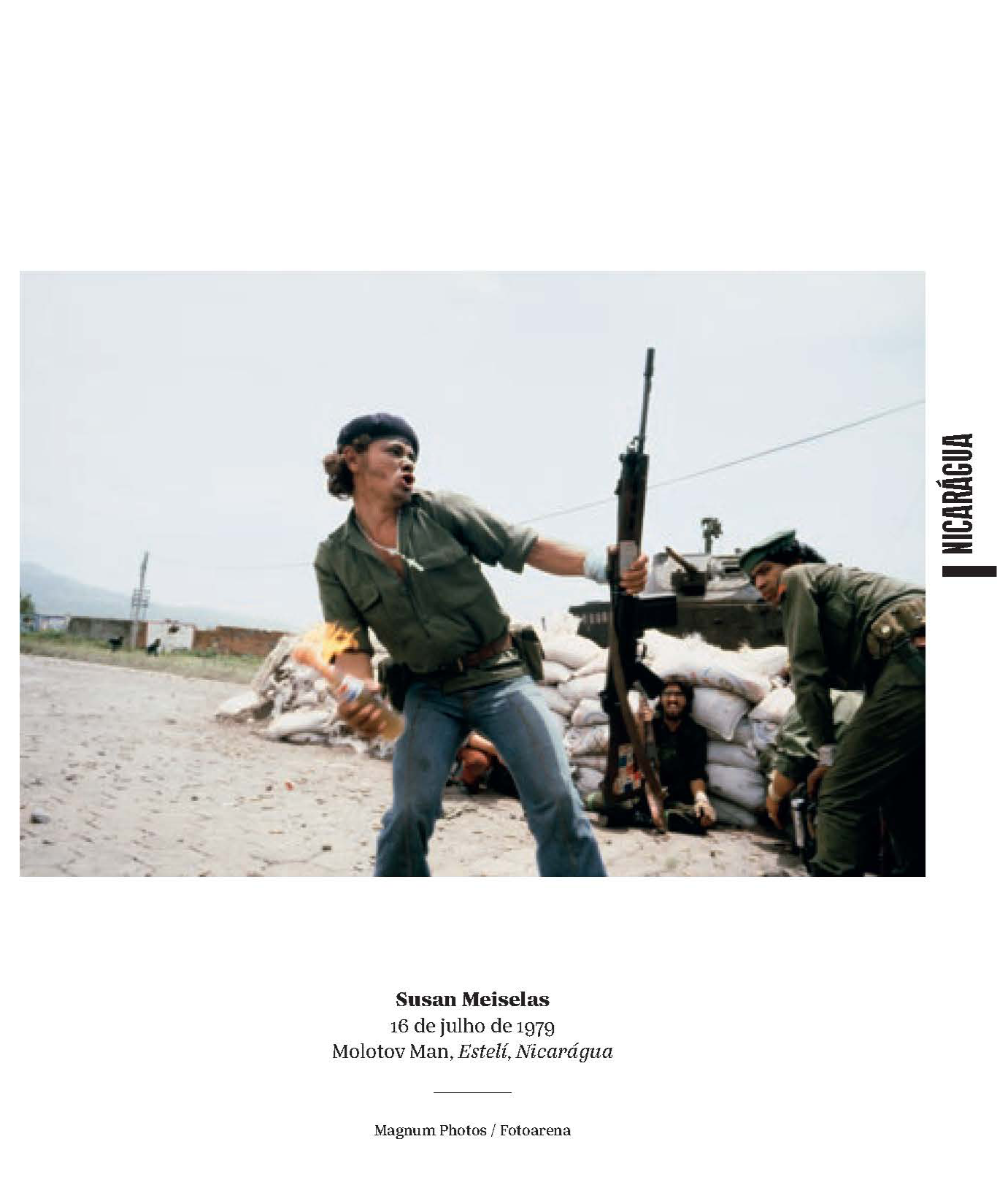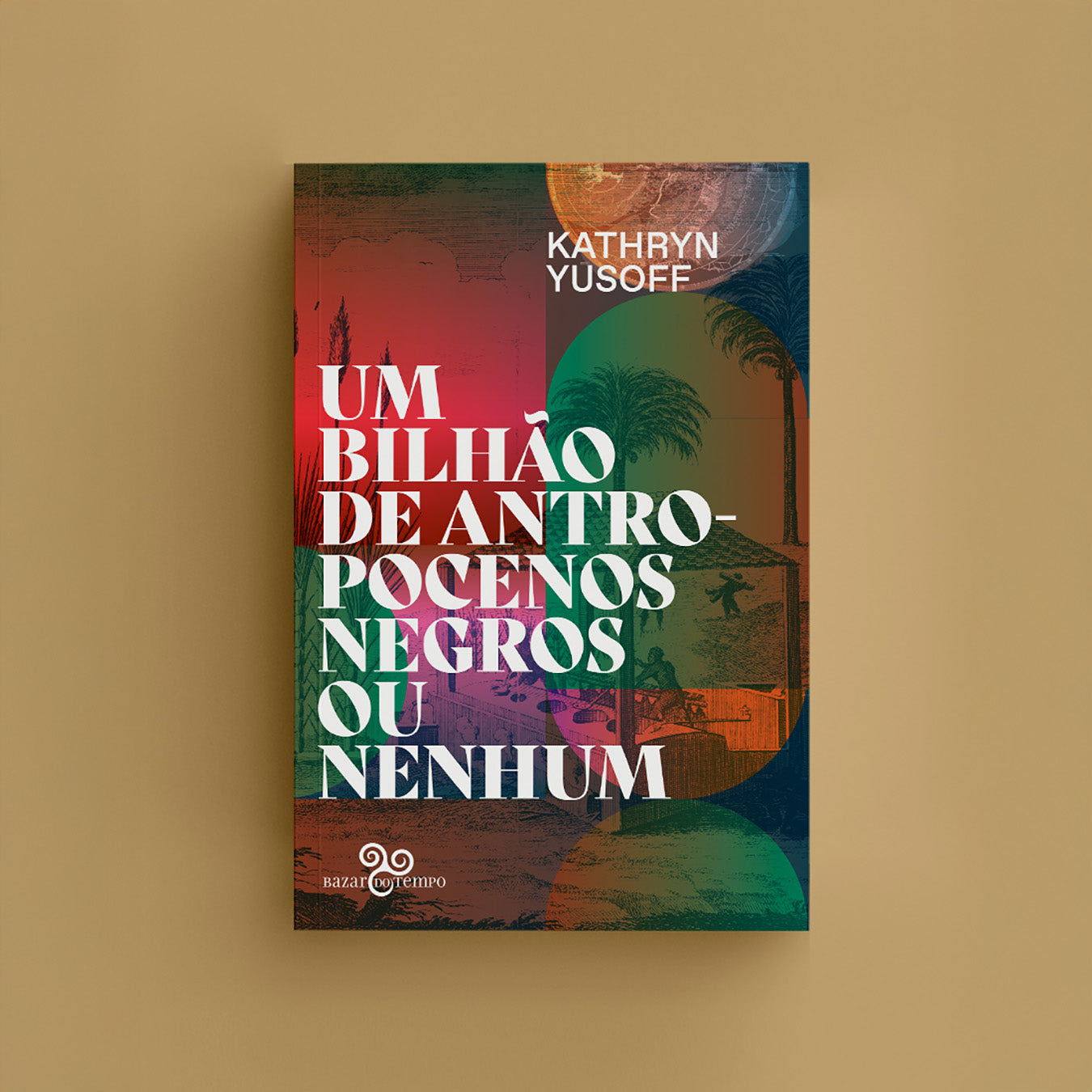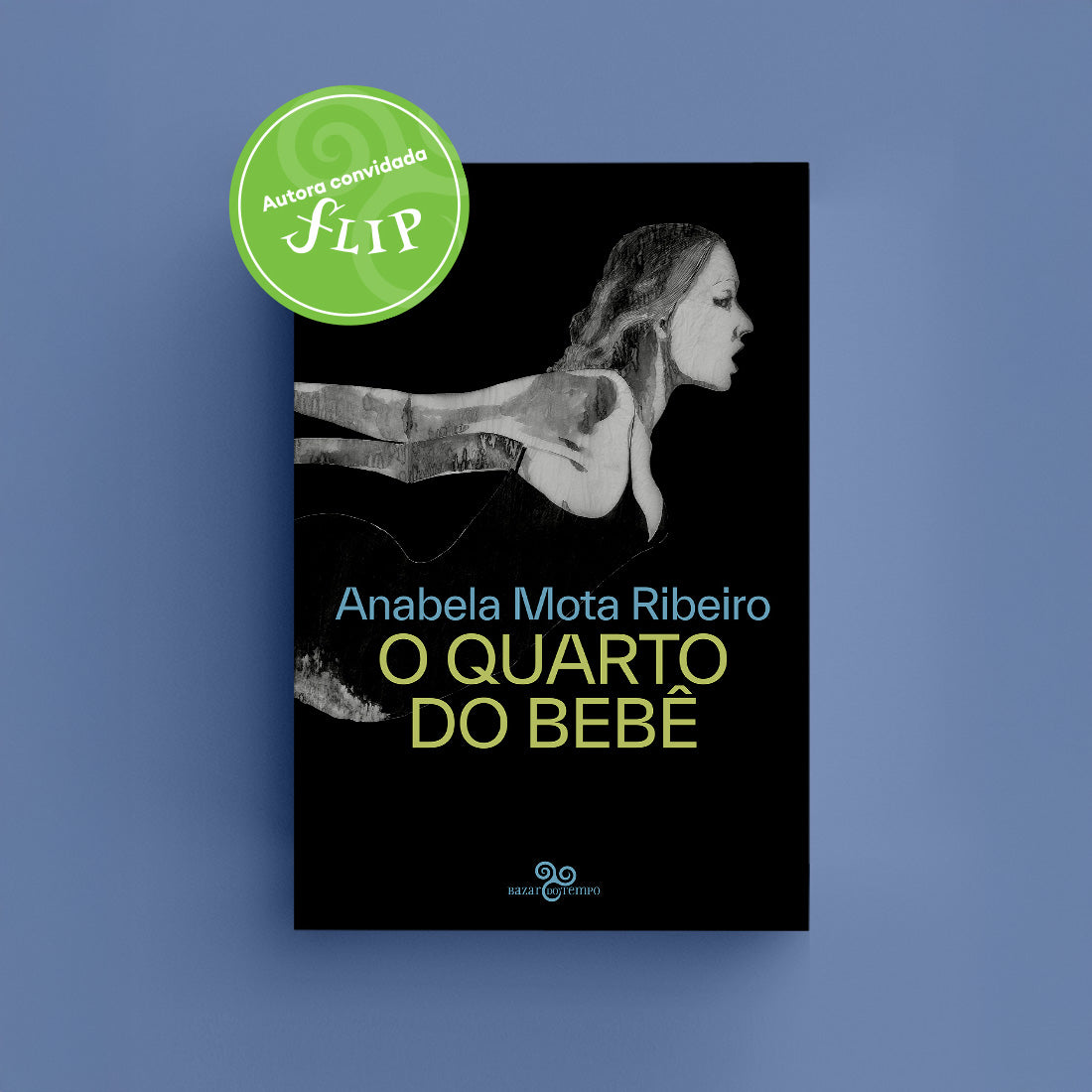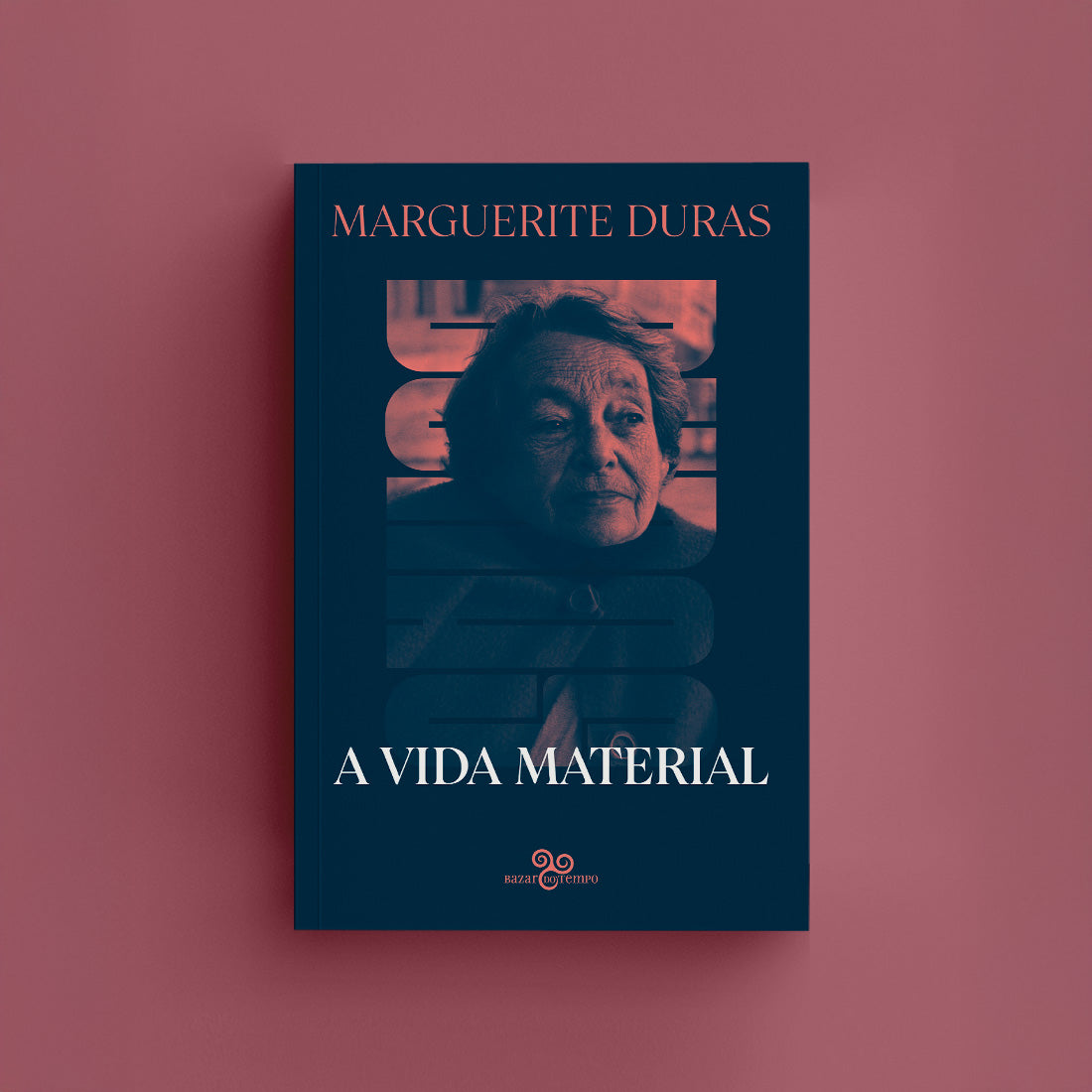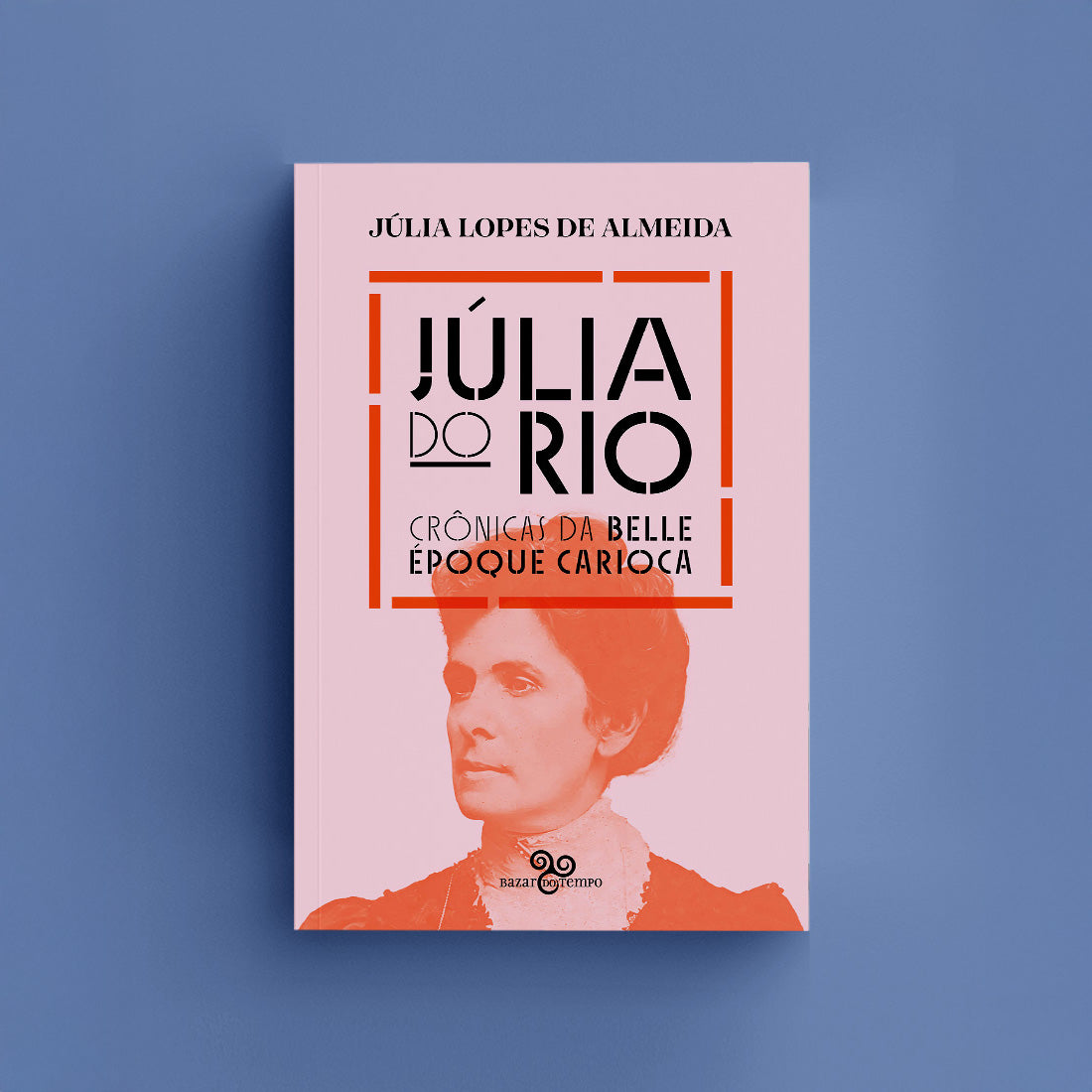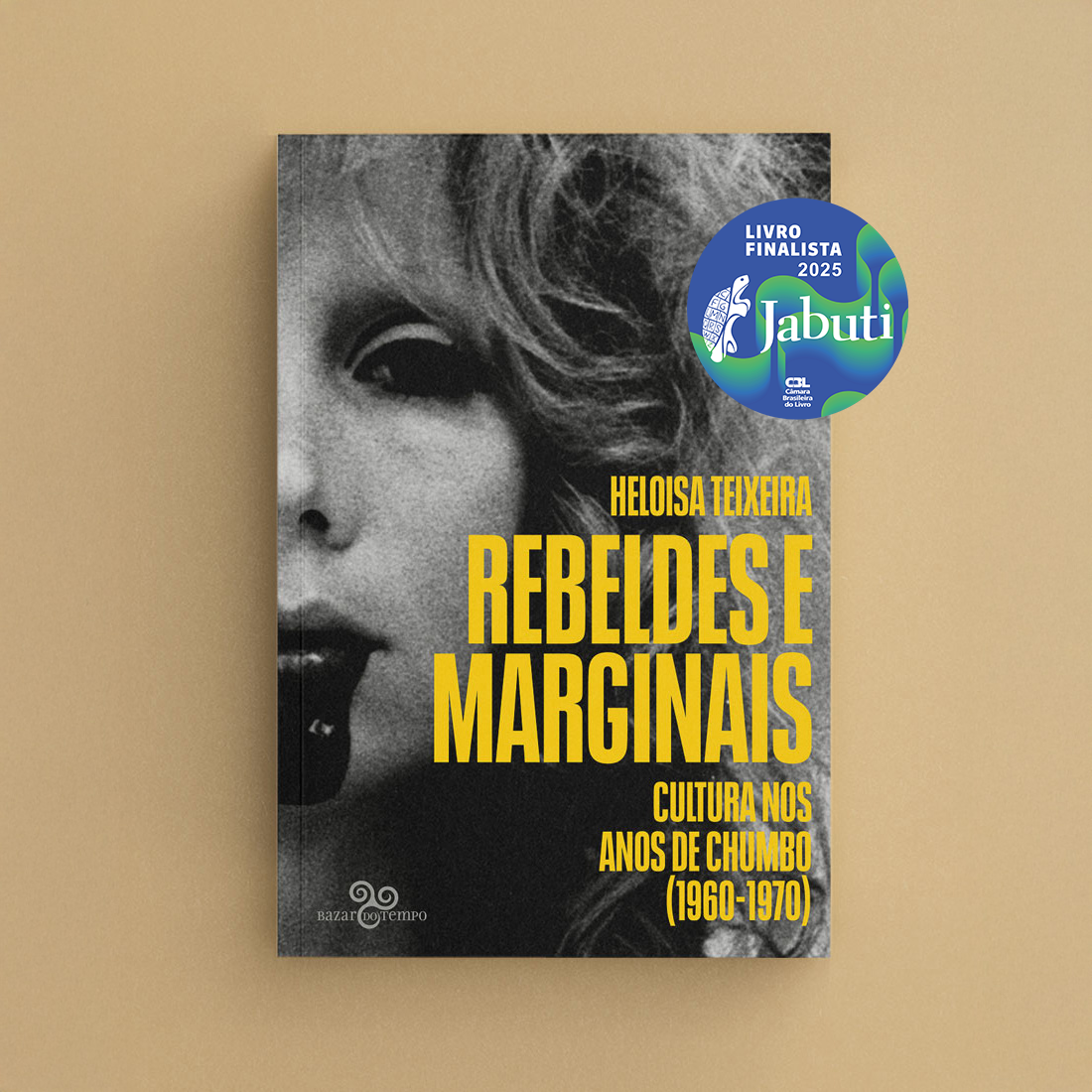Jacqueline Pitanguy
Uma fotografia do Congresso Nacional em 2025 é o retrato de uma violência política: a sub-representação de mulheres neste espaço de poder.
Um espaço que, ao longo dos séculos, foi negado ou dificultado às mulheres. Na Grécia antiga, cerca de 500 anos antes de Cristo, estabelece-se uma nova forma de governo na qual se reconhece que os indivíduos têm direitos frente ao Estado. São cidadãos e não servos. Inauguram-se ali os conceitos de democracia e cidadania, dos quais são herdeiras as sociedades ocidentais. Entretanto, a construção da ideia de cidadania é simultânea à demarcação de espaços de exclusão e é sempre necessário perguntar: quem são os cidadãos e quem são os excluídos? E em função de que critérios? Em Atenas, mulheres e escravos não eram cidadãos. A cidadania era um atributo dos homens livres.
Em Roma Antiga, civilização da qual herdamos nosso ordenamento jurídico, o exercício do poder político era vedado às mulheres que, também no espaço doméstico, eram desprovidas de poder e regidas pela instituição jurídica do pater familias, que atribuía ao homem o poder sobre a mulher, filhos, servos e escravos. Nem mesmo as grandes revoluções ocorridas no século XVIII, e que inauguram período de profundas transformações nas instituições políticas de países ocidentais como a França e os Estados Unidos, alteraram esta posição de exclusão das mulheres.
Esta coreografia do poder, configurando em nível simbólico e concreto direitos e espaços — público e privado — distintos para homens e mulheres, pouco se alterou nestes séculos e se passaram mais de cem anos até que estas pudessem exercer o sufrágio, conquistado no Brasil em 1932. Há, assim, uma herança de exclusão das mulheres das esferas de poder político, herança que as define como sujeitos coletivos apesar dos marcadores de desigualdade como classe social, raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero e divergências ideológicas que as distinguem no interior desta categoria.
Esta coreografia perversa, impregnada de heranças culturais patriarcais, se reinventa cotidianamente para dificultar o acesso de mulheres ao poder político que, no Brasil, permanece branco e masculino. Em comparação aos demais países da América Latina e, mesmo mundialmente, a nossa posição no que se refere à proporção de mulheres no Congresso Nacional, assim como em Assembleias estaduais e municipais, é vergonhosa.1
O que é intrigante no caso do Brasil é o descompasso entre representação política e a posição das mulheres fora do espaço da política partidária, onde esta coreografia vem se modificando com a sua expressiva presença na educação — superando os homens nas matrículas no ensino superior —, no mercado de trabalho, no qual representam cerca de 43% da população economicamente ativa (PEA), e em sua presença marcante em associações, sindicatos, movimentos sociais e organizações diversas da sociedade civil.
Também no ordenamento legal do país têm ocorrido avanços importantes nas desigualdades de gênero, sobretudo pela atuação do movimento feminista que, em articulação com o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, com outros Conselhos estaduais e com associações diversas, estabeleceu um diálogo estratégico com a bancada feminina na Assembleia Constituinte, inscrevendo na Constituição de 1988 um patamar de igualdade entre mulheres e homens na família e na vida pública.
Entretanto, o acesso ao poder político constitui ainda um território em disputa feroz. O feminismo continua a denunciar as barreiras simbólicas e os entraves concretos enfrentados pelas mulheres para entrarem, permanecerem e serem respeitadas no espaço da política.
Uma pergunta se impõe: como superar este domínio masculino neste território da política partidária?
Clara Araújo propõe pensar na inserção das mulheres nos partidos políticos em dois níveis: no interior dos partidos, em termos de sua ideologia e organização, e na disputa entre partidos. E ressalta que, se inicialmente os partidos progressistas foram mais inclinados a incorporar mulheres, esta tendência já se modificou na medida em que também os partidos conservadores passaram a incluí-las.2
Ao mesmo tempo em que o aumento da participação feminina na vida político-partidária contribui para mudar o imaginário social quanto ao “lugar da mulher”, a presença de mulheres imbuídas da ideologia patriarcal neste espaço constitui uma força política antagônica ao avanço dos direitos das mulheres. Isto porque, muitas vezes, elas usam a sua presença neste lugar de poder para contrarrestar os avanços nestes direitos e defender as desigualdades de gênero. Esta defesa ficou evidente com a oposição de 10 deputadas de partidos conservadores ao projeto de lei de igualdade salarial entre homens e mulheres.
No que se refere à dimensão externa aos partidos políticos, cabe destacar a força do eleitorado feminino no Brasil, onde este segmento é majoritário e capaz de definir o rumo das eleições. Neste sentido, há uma disputa acirrada por este eleitorado envolvendo narrativas e significados entre os partidos de esquerda, centro e direita. Nesta disputa, onde a direita faz uso da religião, particularmente do evangelismo e de uma interpretação de textos sagrados ressaltando o papel das mulheres como esposas subalternas, cuidadoras e mães, tem sido estratégico e nevrálgico o debate sobre direitos sexuais e reprodutivos e, particularmente, sobre o aborto.
Apesar da força persuasiva do uso da “palavra de Deus” com fins políticos, a realidade da situação das mulheres — como sua presença no mercado de trabalho, a relevância do número de famílias chefiadas por mulheres, sua autonomia reprodutiva e o avanço do ideário de igualdade de gênero nas diversas dimensões de sua vida — contribui para relativizar este discurso pregado pelos setores conservadores, mas não o anula. O PL, partido de extrema direita, tem a maior bancada no Congresso Nacional.
Persistir e avançar na defesa dos direitos humanos das mulheres em sua diversidade e do ideário de igualdade de gênero é, sem dúvida, uma das principais estratégias para conquistar o eleitorado feminino. Nesta defesa, é fundamental desconstruir as falsas narrativas da extrema direita no sentido de que o feminismo representaria um perigo para a família e a infância, salientando o quanto o feminismo foi justamente o principal responsável pela defesa da família. Exemplos não faltam. Ao denunciar a violência doméstica, inscrever na Constituição de 1988 o dever do Estado em coibir a violência intrafamiliar, o feminismo propiciou o marco constitucional para legislações como a Lei Maria da Penha (2006) e a Lei do Feminicídio (2015), também frutos da atuação feminista e que pretendem tornar o lar e as relações afetivas menos perigosos para as famílias. A criação e a expansão de políticas públicas e equipamentos sociais como delegacias especializadas (DEAMs), casas da mulher, centrais de denúncia (Ligue 180) e abrigos trouxeram maior segurança às famílias, especialmente às mulheres e crianças, principais vítimas da violência doméstica.
O feminismo lutou pelo reconhecimento da creche como um direito da criança; luta contra a violência sexual contra meninas e adolescentes; atua pela implementação de programas de saúde reprodutiva, inclusive para vítimas de violência sexual, com acesso à interrupção da gravidez em casos de estupro. Defende a legislação atual com relação ao abortamento e propõe a expansão deste direito, entendido como fundamental para a saúde das mulheres e suas famílias.
Em suma, retirar o feminismo desta “zona de perigo” a que foi relegado pela extrema direita é fundamental para conquistar o eleitorado feminino no sentido de apoiar candidaturas de mulheres comprometidas com seus direitos.
Quanto à disputa política, são inúmeras as barreiras internas à máquina partidária. A defesa ferrenha deste território tradicionalmente masculino vai desde candidaturas “laranja”, a dificuldade de acesso a recursos do fundo eleitoral, menos acesso a meios de comunicação, delegação de tarefas secundárias no interior dos partidos, entre outras formas de frear o seu crescimento eleitoral ou decisório. Débora Thomé e Malu Gatto (2024) elencam as inúmeras dificuldades enfrentadas por mulheres candidatas de diferentes posições ideológicas no interior dos partidos, assim como nas ruas e na sua vida familiar.3
Estas dificuldades constituem uma violência política, mesmo que frequentemente velada e sutil. A estas dificuldades/violências no interior da máquina partidária deve-se ter em conta que as mulheres são ainda as principais responsáveis pelo cuidado da casa e da família, acumulando tarefas domésticas que frequentemente as impossibilitam de participar assiduamente de atividades políticas.
Medidas para contrarrestar a violência política da exclusão deste espaço remontam à década de 1990, quando se instituiu, em 1995, a primeira lei de cotas, determinando que 20% das vagas deveriam ser preenchidas por mulheres. Considero este percentual uma forma de violência política. Em 1997, há um avanço, pois os partidos passam a ter a obrigação de reservar percentual mínimo de 30% e máximo de 70% para cada sexo. Finalmente, em 2009, as palavras “deverá reservar” são substituídas por “deverá preencher”.4
Graças à atuação e denúncia do feminismo, comportamentos e atitudes que agridem e desrespeitam as mulheres — seja no sentido de excluí-las do espaço político, seja restringir seu acesso, seja desrespeitá-las em sua atuação política como parlamentar ou candidata — saíram das sombras e foram, em 2021, devidamente caracterizados e inscritos no nosso ordenamento jurídico como violência política de gênero.5
Em 2018, através de uma ação ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (ADI 5617), na qual a Faculdade de Direito da FGV e a CEPIA atuaram como amicus curiae, o Supremo Tribunal Federal acordou que ao menos 30% dos recursos partidários deveriam ser alocados a candidaturas femininas, dentro do princípio de que estes recursos devem respeitar a exata proporção de candidaturas de cada sexo. Esta decisão do STF teve um efeito imediato no aumento de mulheres eleitas para o Congresso Nacional em 2018.6
A ruptura simbólica de que espaços públicos são para os homens e privados para as mulheres, de que avanços na igualdade de gêneros ameaçam as famílias, assim como a visibilização e a punição de manifestações de violência política, são algumas das iniciativas que vêm, lentamente, eliminando barreiras na cultura política patriarcal que ainda predomina no Brasil e que representa não só uma violência política contra as mulheres, mas também uma violência contra a própria democracia.
Seguimos...
Referências
- Indicadores internacionais de representação feminina em parlamentos nacionais (União Interparlamentar). ↩︎
- Araújo, Clara (2005). “Partidos políticos e gênero: mediações nas rotas de ingresso das mulheres na representação política”. Revista de Sociologia e Política, jun. 2005. DOI: 10.1590/S0104-44782005000100013. ↩︎
- Gatto, Malu; Thomé, Débora (2024). Candidatas: os primeiros passos das mulheres na política no Brasil. Rio de Janeiro: FGV Editora. ↩︎
- Leis 9.504/1997 (art. 10, §3º) e 12.034/2009 (mini-reforma eleitoral), que instituem e aperfeiçoam as cotas de gênero nas candidaturas. ↩︎
- Lei nº 14.192/2021 — define e tipifica a violência política de gênero. ↩︎
- STF, ADI 5617 — decisão que vincula o mínimo de 30% dos recursos às candidaturas femininas, na proporção das candidaturas apresentadas. ↩︎
Jacqueline Pitanguy é socióloga, Coordenadora Executiva da CEPIA, foi Presidente do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. É coautora, com Branca M. Alves, do livro Feminismo no Brasil: Memórias de Quem Fez Acontecer (2022), Bazar do Tempo.