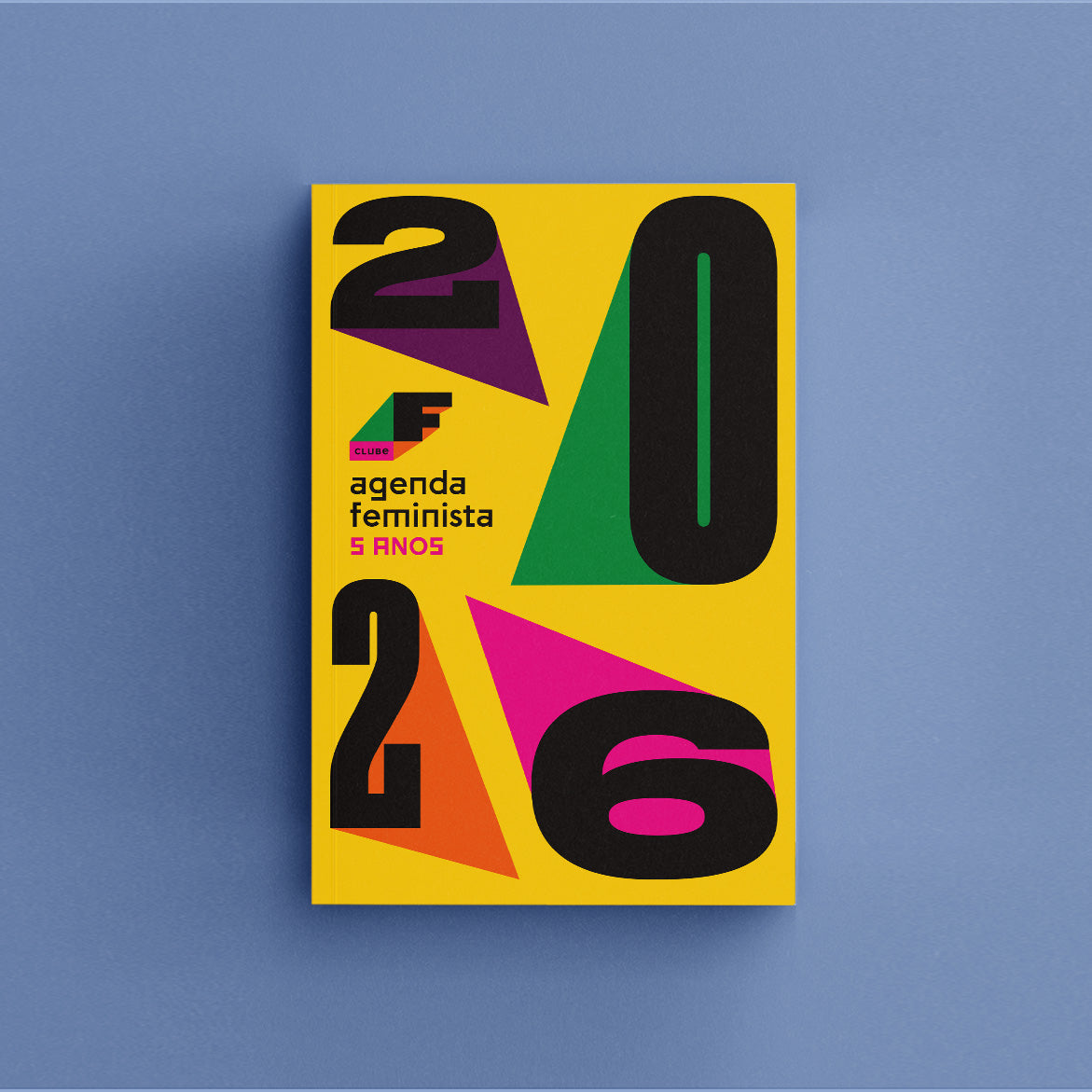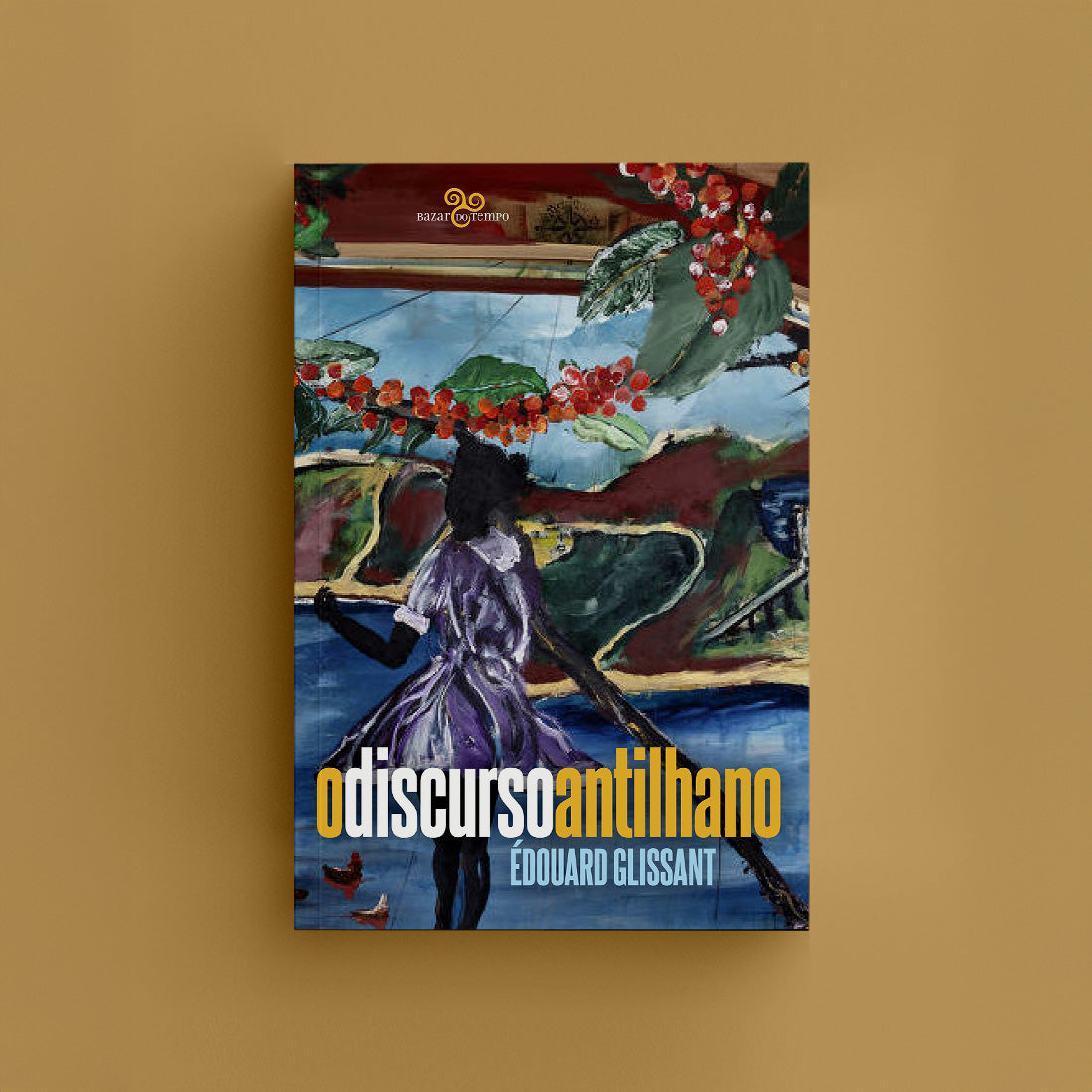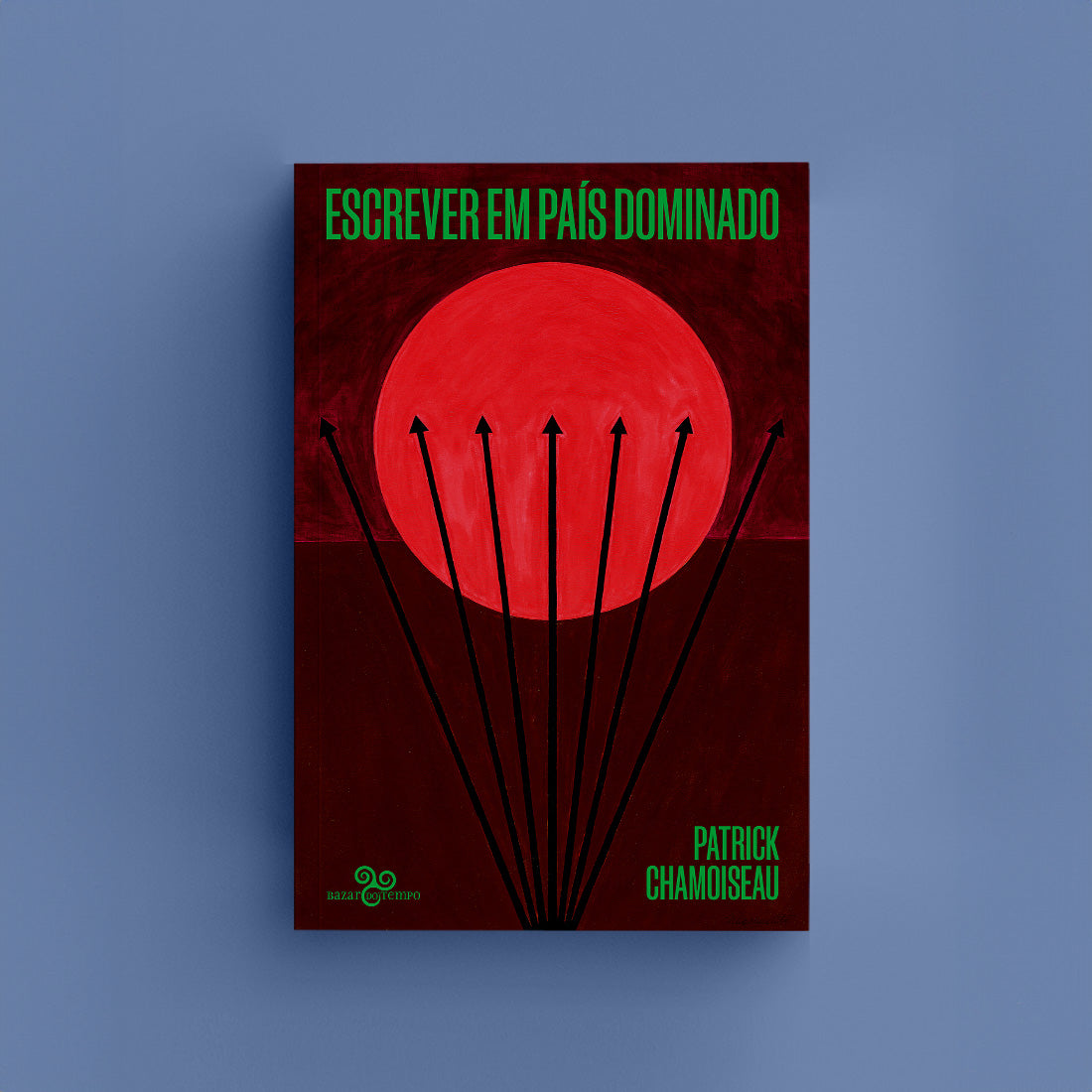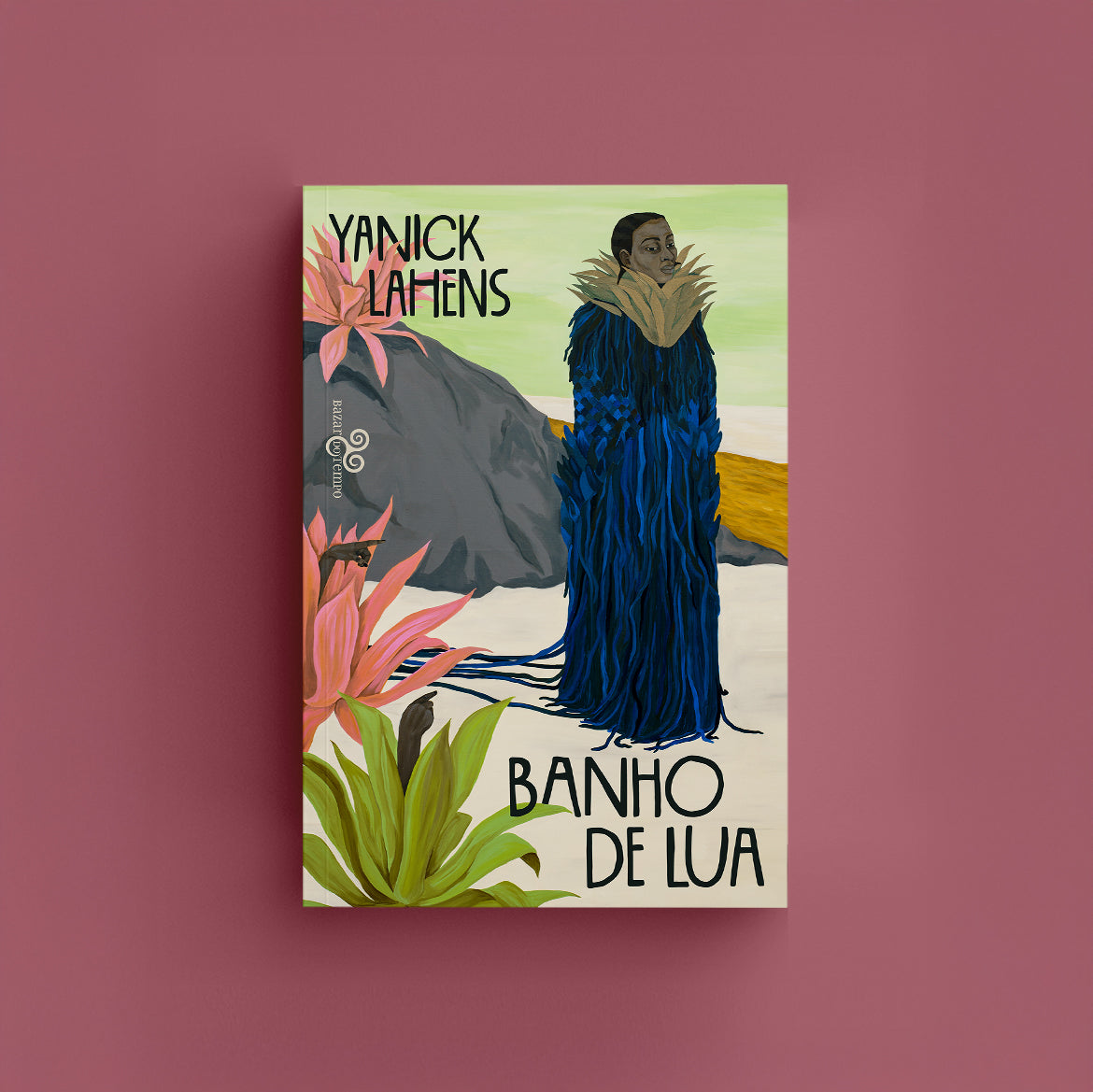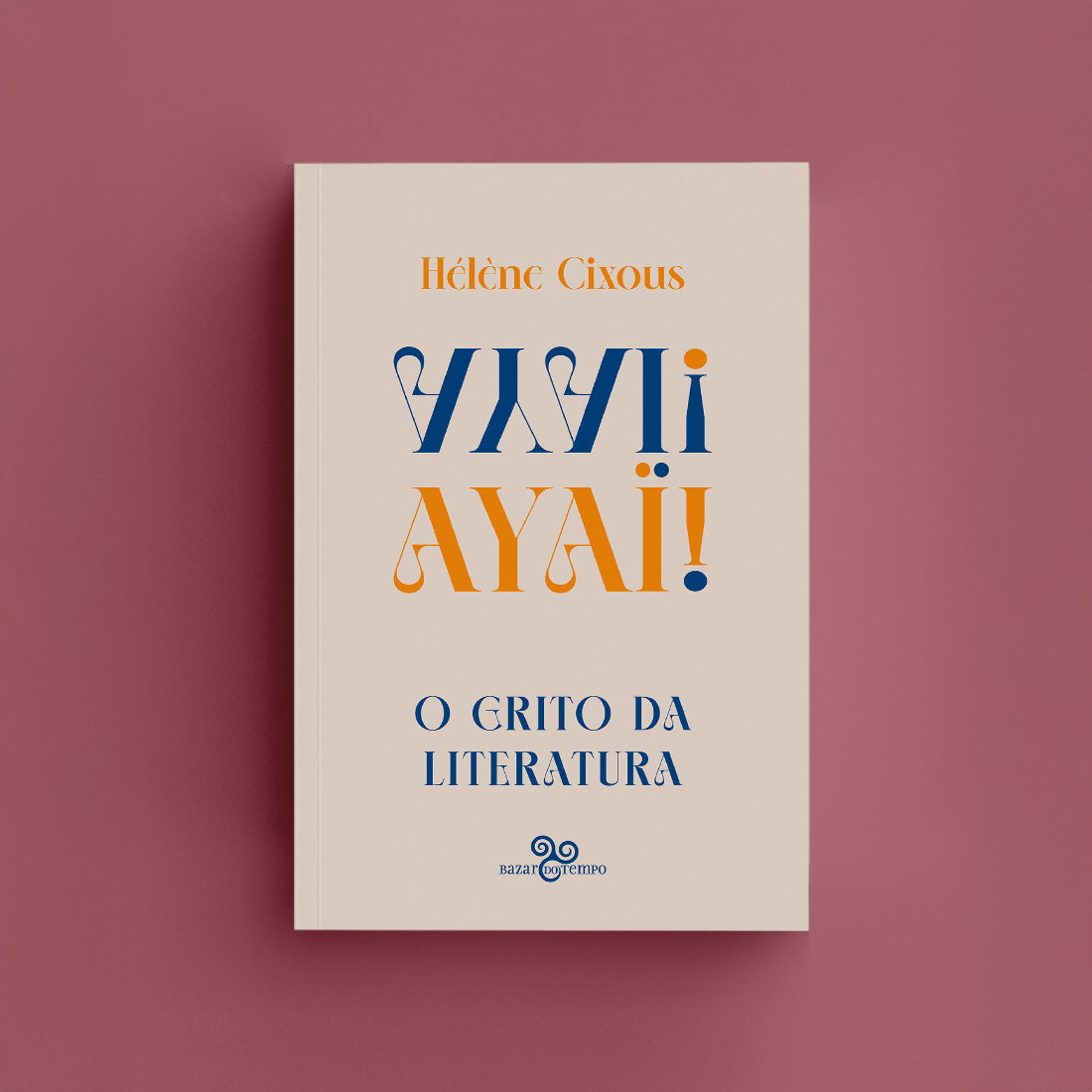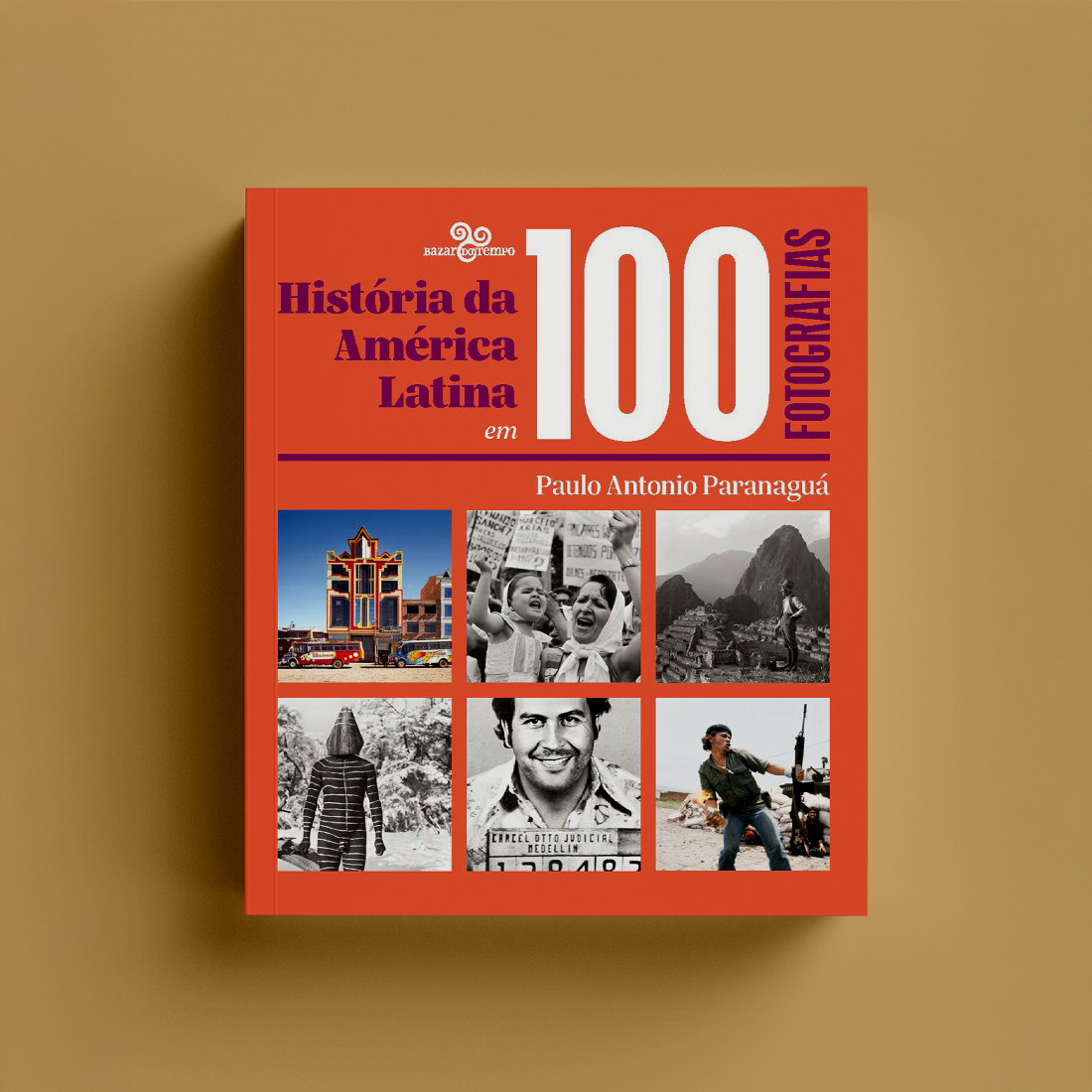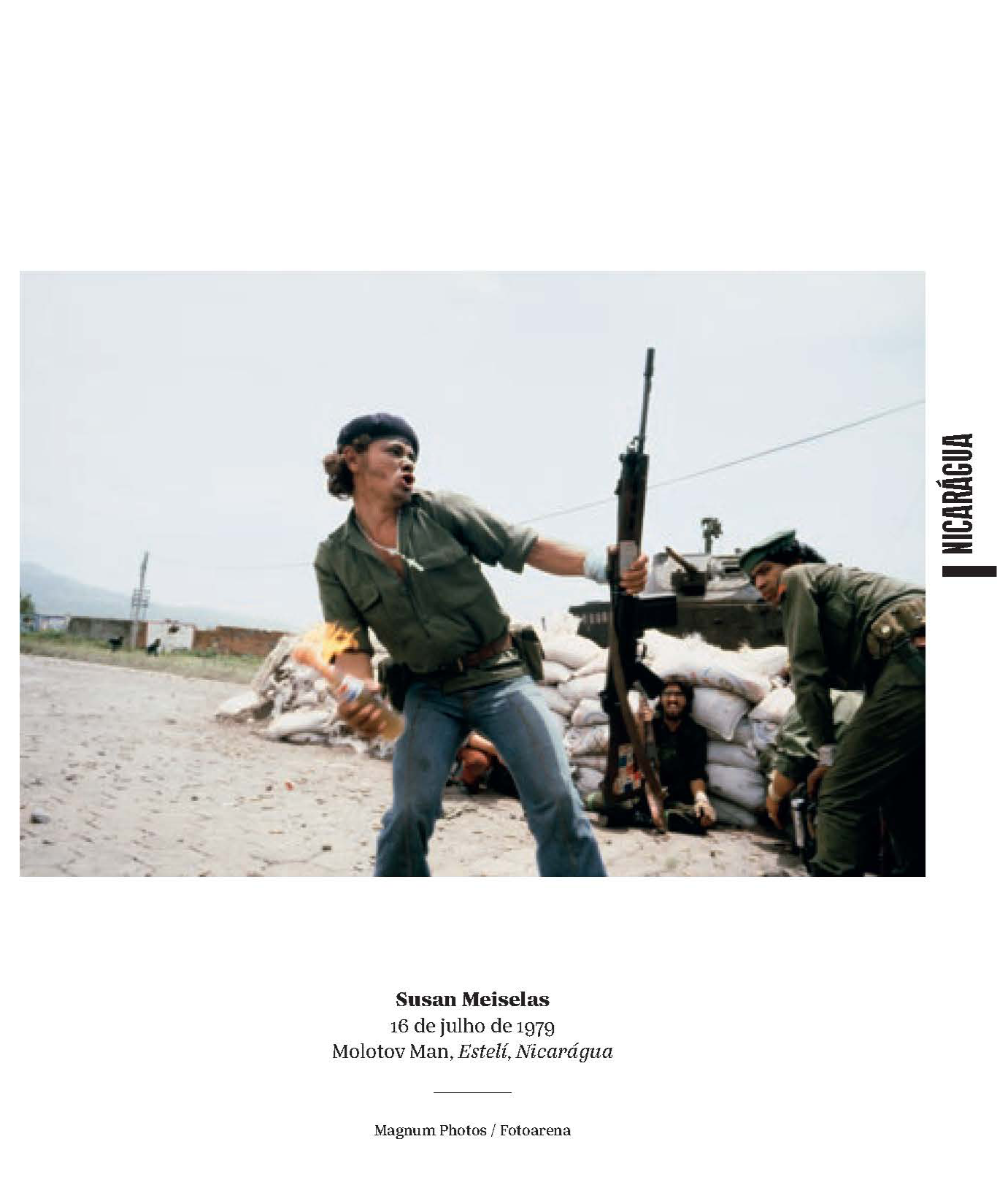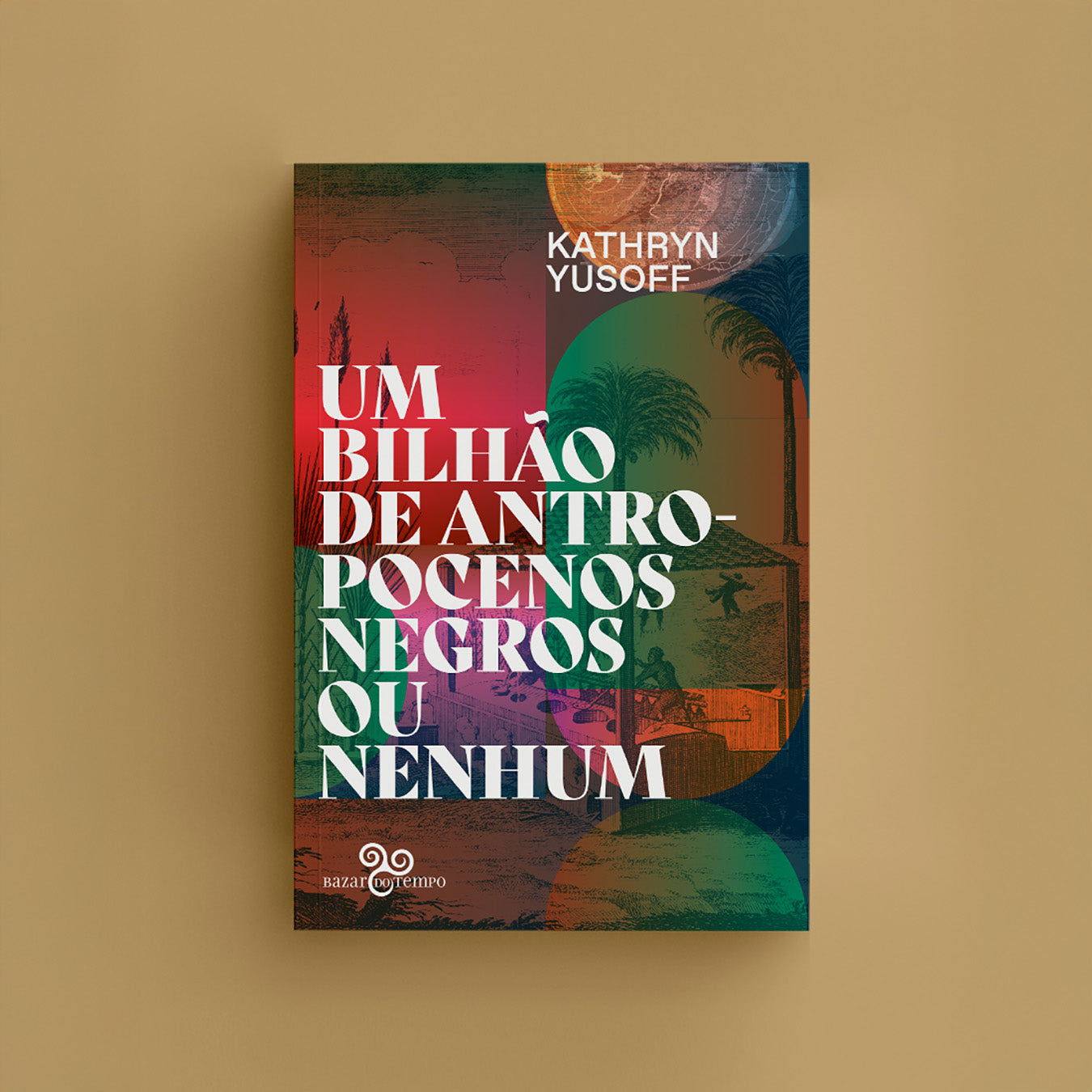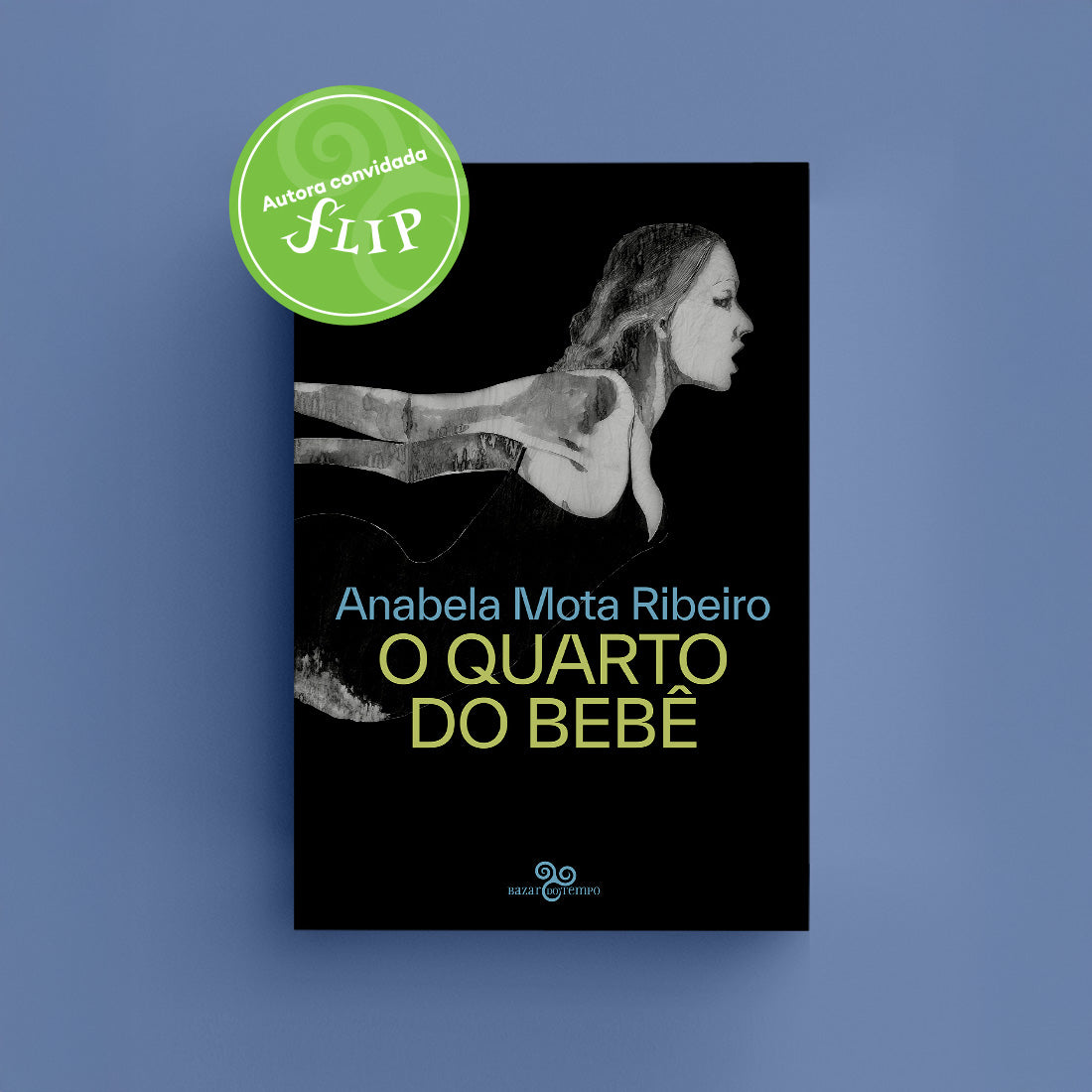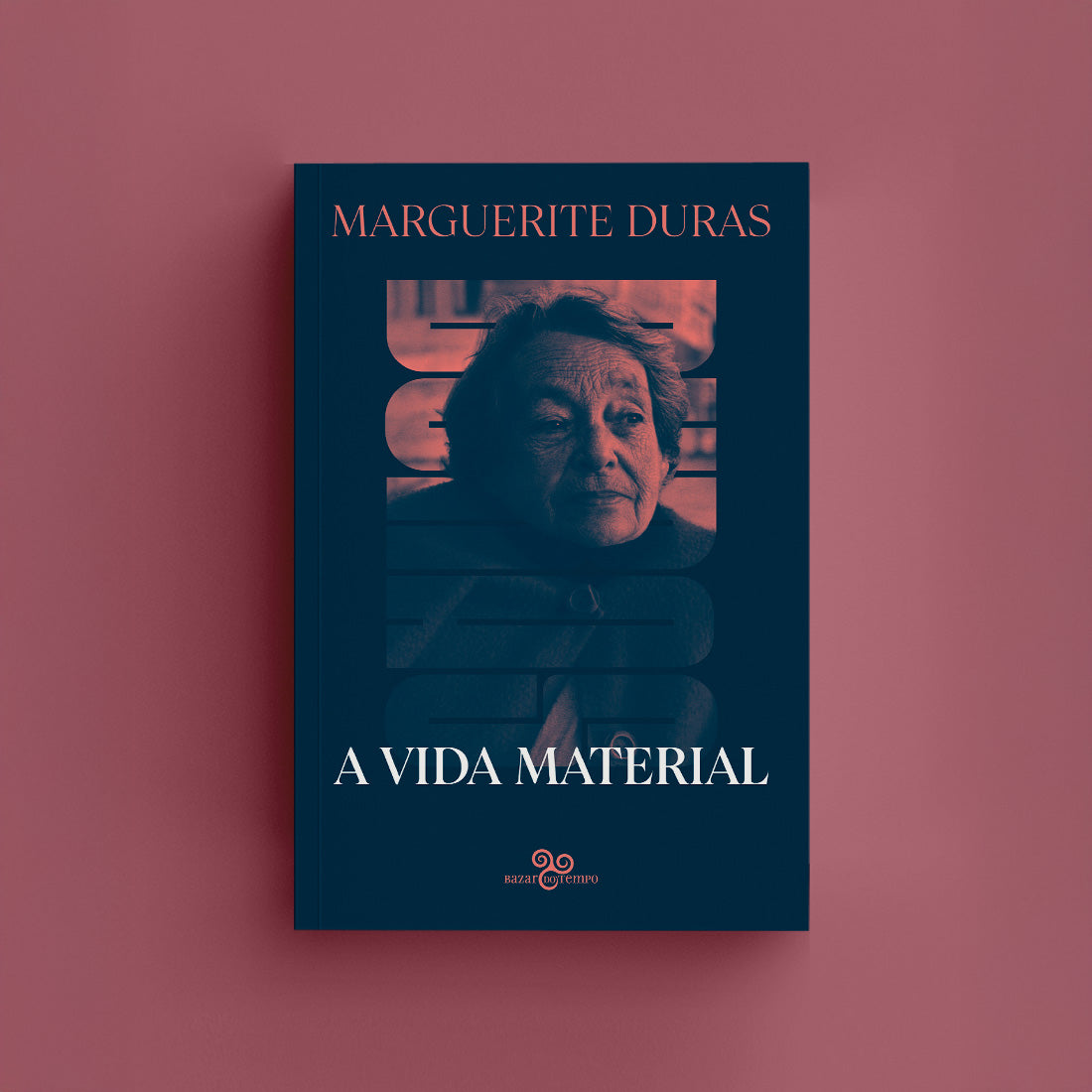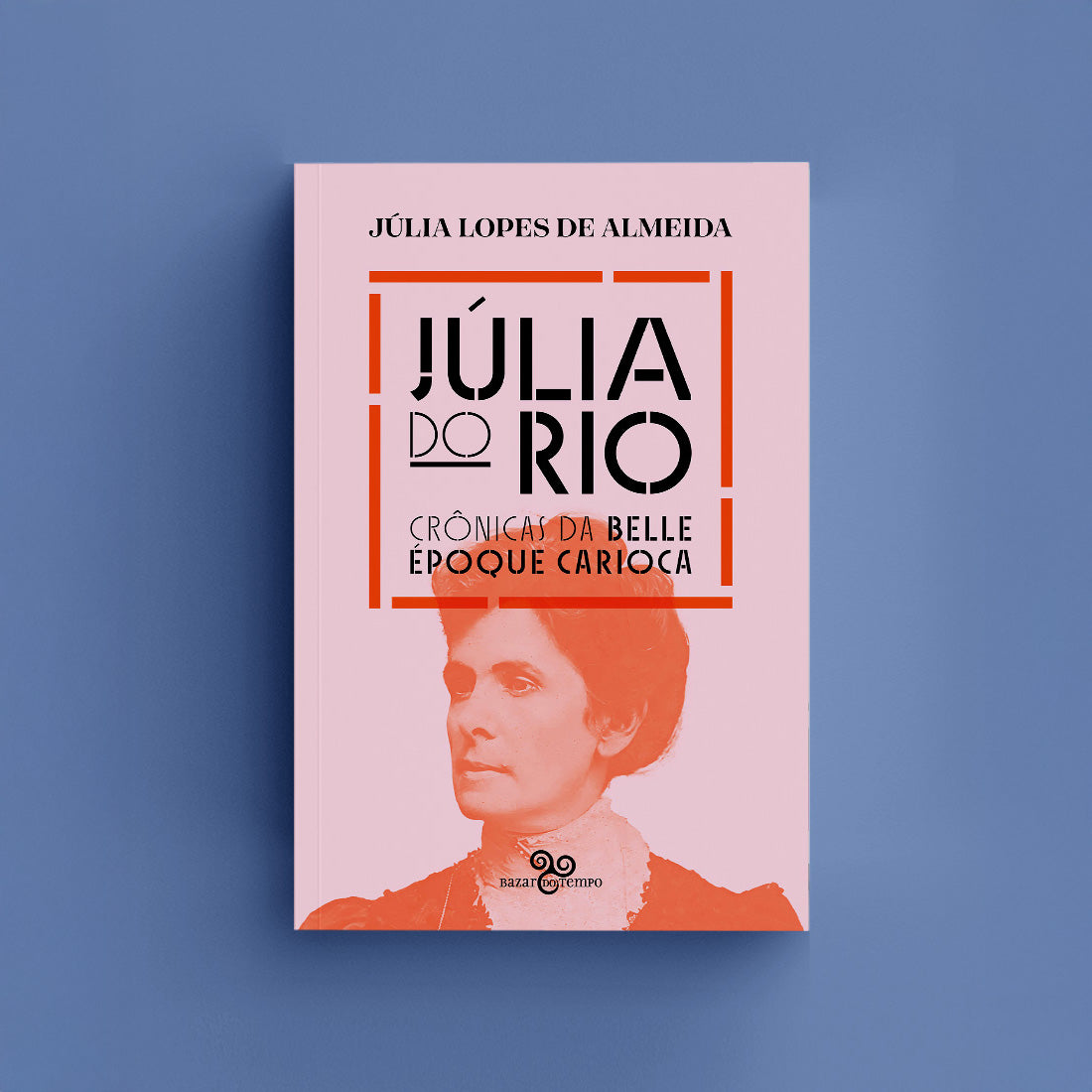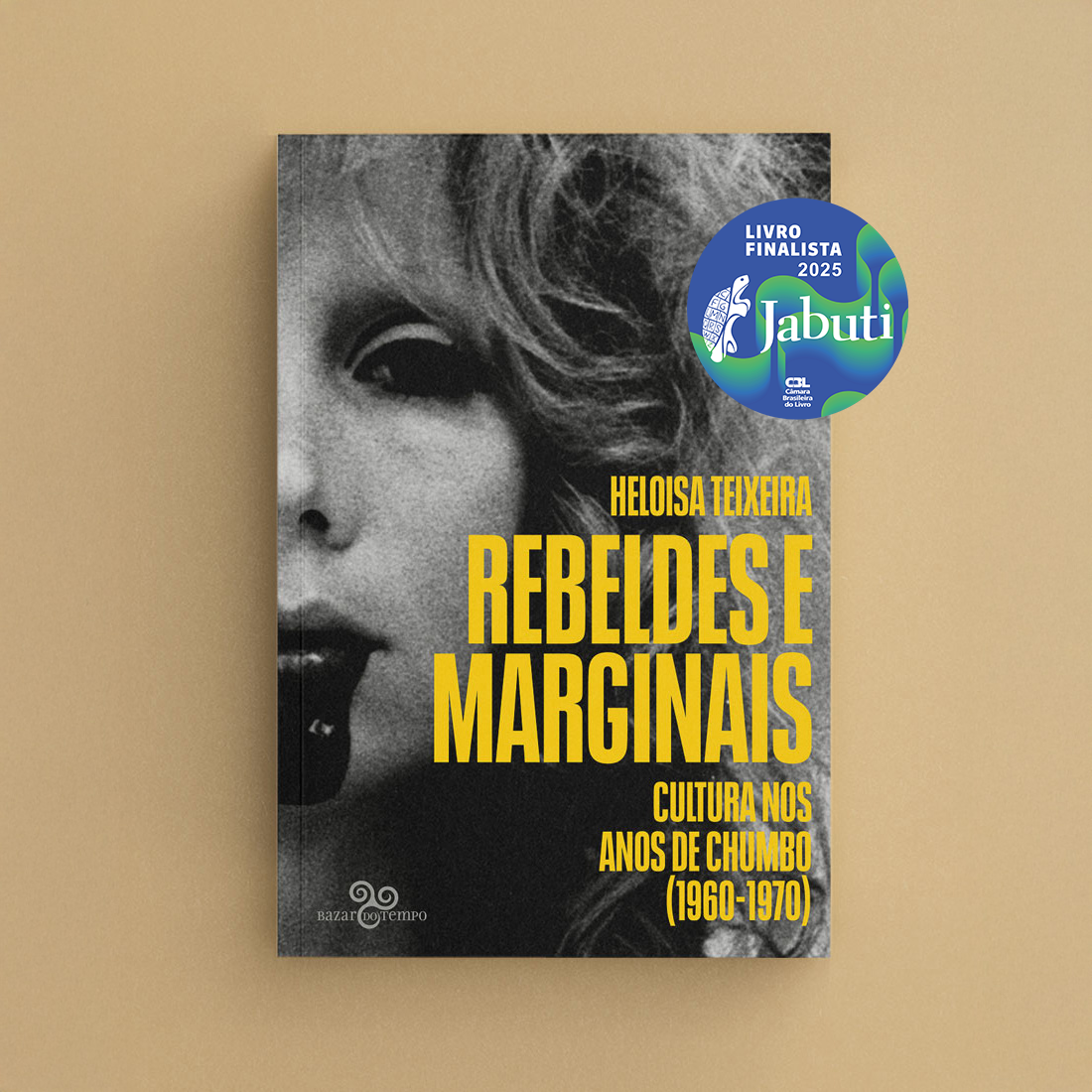Céu Cavalcanti
Ao iniciar esses escritos, uma passagem em específico do livro As malditas, da autora argentina Camila Sosa Villada, me chega com força de organizar e convocar miradas. Em determinado momento da história, um grupo de travestis decidem ir tomar sol enquanto uma delas (a protagonista) compartilha uma reflexão:
Na verdade, somos noturnas. Não saímos de dia. Os raios do sol nos enfraquecem, revelam — para que negar isso? — as indiscrições de nossa pele, a sombra da barba, os traços indomáveis do homem que não somos. Não gostamos de sair de dia porque as massas se revoltam diante dessas revelações, expulsam-nos com insultos, querem nos amarrar e nos enforcar em praça pública. O desprezo manifestado, a desfaçatez de nos olhar e não se envergonhar disso.
Não gostamos de sair de dia porque as senhoras da alta sociedade, as senhoras de penteado feito no cabeleireiro e cardigan de fio fino, denunciam-nos por escândalo. Apontam para nós com seus dedos de harpia e nos convertem em estátuas de sal, prontas para a derrocada, para a avalanche de nossas células esparramadas como as pérolas de um colar arrancado de supetão.
Não gostamos de sair de dia porque não estamos acostumadas, porque é impossível se acostumar ao espartilho dos seus estatutos. Melhor ficarmos dormindo, trancadas em nossos quartos, assistindo a novelas ou não fazendo nada. Não fazer nada durante o dia, apagar-se do mapa da produção — isso é o que fazemos.
Mas, nesta tarde, decidimos ir tomar sol. (…)
(As Malditas, 2025, Camila Sosa Villada, p. 94)
Esse trecho me faz pensar em um conjunto de elementos que tomam as vidas trans como centro de supostas polêmicas e, a cada pequeno acesso de direitos, vemos forças contrárias tentando produzir retrocessos. Alguns exemplos contemporâneos são tão ridículos que se fazem cansativos, como as disputas sobre se pessoas trans podem ou não utilizar banheiros — disputas que vão desde proposições no legislativo a ações micropolíticas espaço a espaço (inclusive espaços supostamente “aliados”, mas que deixam à mercê dos seguranças fazerem o crivo e tomar a decisão sobre se a pessoa trans pode ou não acessar o direito de usar um vaso sanitário). Ousar sair à luz do dia parece ser ainda um pecado punido com o escárnio público e com a ofensa de hordas revoltadas. Cabe aqui uma breve reflexão junto a Judith Butler quando pergunta em seu ensaio “quem tem medo de gênero?”. Nesse texto, de um modo provocativo, a autora vai mapeando como gênero, em nosso tempo presente, vai sendo palavra maldita, tomada como espantalho de diferentes grupos que, a partir de uma hiper-polemização e do acionamento de pânicos morais, passam a usar o ataque a segmentos já vulnerabilizados como moeda eleitoreira. Cruzadas morais vão se compondo por entre raivosos discursos e as mais diversas acusações. Palavras como “doutrinação”, “ideologia de gênero”, “defesa das famílias e da moral”, entre muitas outras, vão produzindo pânico em uma população imersa em suas próprias desigualdades e capturável por discursos salvacionistas que apontam bodes expiatórios. Butler nos provoca ainda ao perguntar sobre quais e quantos medos contemporâneos são mascarados ao redor do medo de uma suposta “ideologia de gênero”. Vociferar contra o perigo das existências trans na vida coletiva e comum não seria, segundo essa autora, um meio de produzir cortina de fumaça que desvia o foco para problemas reais e urgentes? Como, por exemplo, as mudanças climáticas, a violência de Estado, a fome e a desigualdade acirrada em contextos de precarização crescente das relações de trabalho? Fazendo breve análise sobre o que defendem as pessoas que se propagam arautas da defesa às famílias contra tal ameaça fantasmática, não raro acabam por ser as mesmas pessoas que votam a favor da precarização das vidas e contra políticas públicas de saúde e assistência, contra o amplo acesso a direitos e contra medidas que melhorariam, na prática, a vida das famílias que estes dizem defender. Uma curiosa hipocrisia aqui se aponta numa aritmética que, ao menos no campo legislativo, parece evocar que, quanto mais pânico moral e eleição de inimigos em comum, menos propostas concretas de garantir direitos veremos ser protocoladas.
Chama atenção também uma imagem posta no trecho de As malditas: as famigeradas senhoras com cabelos feitos no cabeleireiro e cardigan de fio fino. Estas que apontam seus dedos de harpia a acusar de impropérios e tentar produzir estátuas de sal derrocadas e expulsas. Em nosso presente elas tomam muitos rostos, desde literais senhoras religiosas até algumas jovens que se reivindicam feministas “radicais”. Em comum, o mesmo dedo de harpia a condenar existências trans por todos os males sociais possíveis. Inevitável lembrar alguns perigosos movimentos culturais que vão buscando ecos. De início, há um efeito perverso produzido quando a famosa escritora da saga Harry Potter anunciou em suas redes sociais que, para ela, pessoas trans seriam como as piores das criaturas de seu universo ficcional (os comensais da morte). A reboque, uma série de discursos fortalecidos seguem tentando produzir esse lugar, como as tentativas de produzir inclusive um movimento social LGB sem pessoas trans. Sobre esses pontos, não cabe nos ater aqui e agora, mas, enquanto analisadores, chama atenção o fato de que grupos conservadores religiosos e alguns grupos que supostamente reivindicam direitos passam a ter e reproduzir exatamente os mesmos discursos, num ideário de cruzada moral contra vidas trans.
Para que tal demonização consiga se perpetuar, algumas estratégias semânticas são fundamento, como, por exemplo, a criação de imaginário que demarque as pessoas trans como flutuantes e distantes das diferentes camadas sociais e da vida comum com suas complexidades. A simplificação da percepção que temos sobre o outro é estratégia de produção de estigma e desumanização — poderíamos pensar desde o já clássico Goffman. Simplificar a expectativa sempre decorre da eleição de estereótipos como modelos a nos informar sobre esse outro e todos os grupos marginalizados passam por esse processo de produção de discursos totalizantes (e sempre falados em terceira pessoa). Lembro aqui de curiosa conversa que uma vez uma pessoa alinhada com perspectivas do feminismo transfóbico tentou ter comigo. Visivelmente desconfortável ao tentar falar comigo, nos dois minutos de interação ela comentava coisas como “a sua causa”. Era um espaço de lazer e ela, que sequer me conhecia, tentou delimitar (mais para ela que para mim) algum campo isolado que seria a “minha causa”. Tomei esse breve encontro como analisador dali em diante e fiquei, volta e meia, eu mesma me perguntando qual era a “minha causa” e o que ela acreditava ser “a minha causa”. Faz anos que trabalho e acompanho de perto os debates sobre redução de danos e disputas ao redor da política sobre drogas no Brasil; esta é, sem dúvidas, uma das minhas causas. Junto a isso, perspectivas antimanicomiais de cuidado e fortalecimento das redes de proteção social nos territórios também são causa urgente para mim. Por uns anos também compus um movimento feminista abolicionista penal e, desde então, pautar mudanças nas políticas penais e acompanhar lutas contra a violência de Estado também é minha causa. Enquanto me pegava atravessada por essa tentativa de me simplificar e isolar de todas as outras possibilidades de construção coletiva para além de um marcador identitário, encontrei eco numa fala de Angela Davis, de 2013, publicada no livro A liberdade é uma luta constante, onde ela pensa sobre a Palestina e o complexo industrial-prisional. Em determinado momento, na minha leitura, Angela radicaliza as perspectivas interseccionais ao propor que não há como alguém se dizer contrário às lógicas de apartheid e enfrentamento ao racismo e não se implicar na defesa da Palestina contra o genocídio promovido por Israel. Há um convite da autora a percebermos que, inclusive como feministas e aprendendo dos feminismos negros, as lutas são sempre interconectadas. A complexidade da vida exige que percebamos que as violências e desigualdades são produzidas e mantidas por múltiplos fatores, o que nos pede estratégias e alianças também múltiplas em seus enfrentamentos. Redes de articulação que nos apontam que não há uma causa isolada das demais quando o que disputamos é um outro projeto de sociedade onde todas as pessoas possam dispor de direitos e bem viver.
Enquanto aquelas senhoras com seus dedos de harpia tentam isolar e culpabilizar pessoas trans, tal qual os conservadores, há muitas outras que, alinhadas com feminismos interseccionais, entendem que a diferença é inerente e constitutiva e que mudança é sempre coletiva. Cruzamentos, encruzilhadas são imagens brasileiras que poderíamos compor a pensar nesses entrecruzos de lutas e estratégias de invenção da vida, especialmente nas zonas mais precarizadas. Se aprendemos dos feminismos negros a força das intersecções, aprendemos também das sabedorias populares que, desde as ruas, as fronteiras são sempre borradas e as alianças, imprevisíveis.
Tais alianças ajudam a afirmar que, apesar de alguns acenos de retrocessos que tentam impedir o acesso a direitos, seguiremos saindo ao sol, complexificando os cenários sociais e as dimensões públicas da vida cotidiana. Nesse sentido, a debochada certeza com que o grupo das travestis que abrem este texto reivindicam seu sagrado direito de tomar sol aponta para disputas no imaginário coletivo que demarquem a multiplicidade de vidas possíveis de serem vividas, muito para além dos estreitos e impossíveis moldes vociferados por convenientes conservadorismos. Se esse mundo de regras de gênero impossíveis, e onde sequer existimos, é a ficção dessas pessoas, nossas vidas imprevisíveis, vivendo com alguma plenitude, é imediatamente a ruína dessa ficção política e o alargamento das percepções de mundo. Pois que assim seja.
Quem nos vir nesta tarde, caídas sobre o gramado, tomando mate ao sol, besuntadas de coca-cola, da cor do caramelo líquido, vai sonhar com nossos corpos e nossas risadas, será uma imagem insuportável, como a visão de Deus.
(As Malditas, 2025, Camila Sosa Villada, p. 94)
Céu Cavalcanti é doutora em psicologia (UFRJ) e professora adjunta do departamento de psicologia social, no Instituto de Psicologia da UFRJ. É secretária de saúde mental da ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), na pasta de saúde mental da população trans no Brasil. Também é integrante da Articulação Nacional de Psicólogues Trans (ANP Trans).