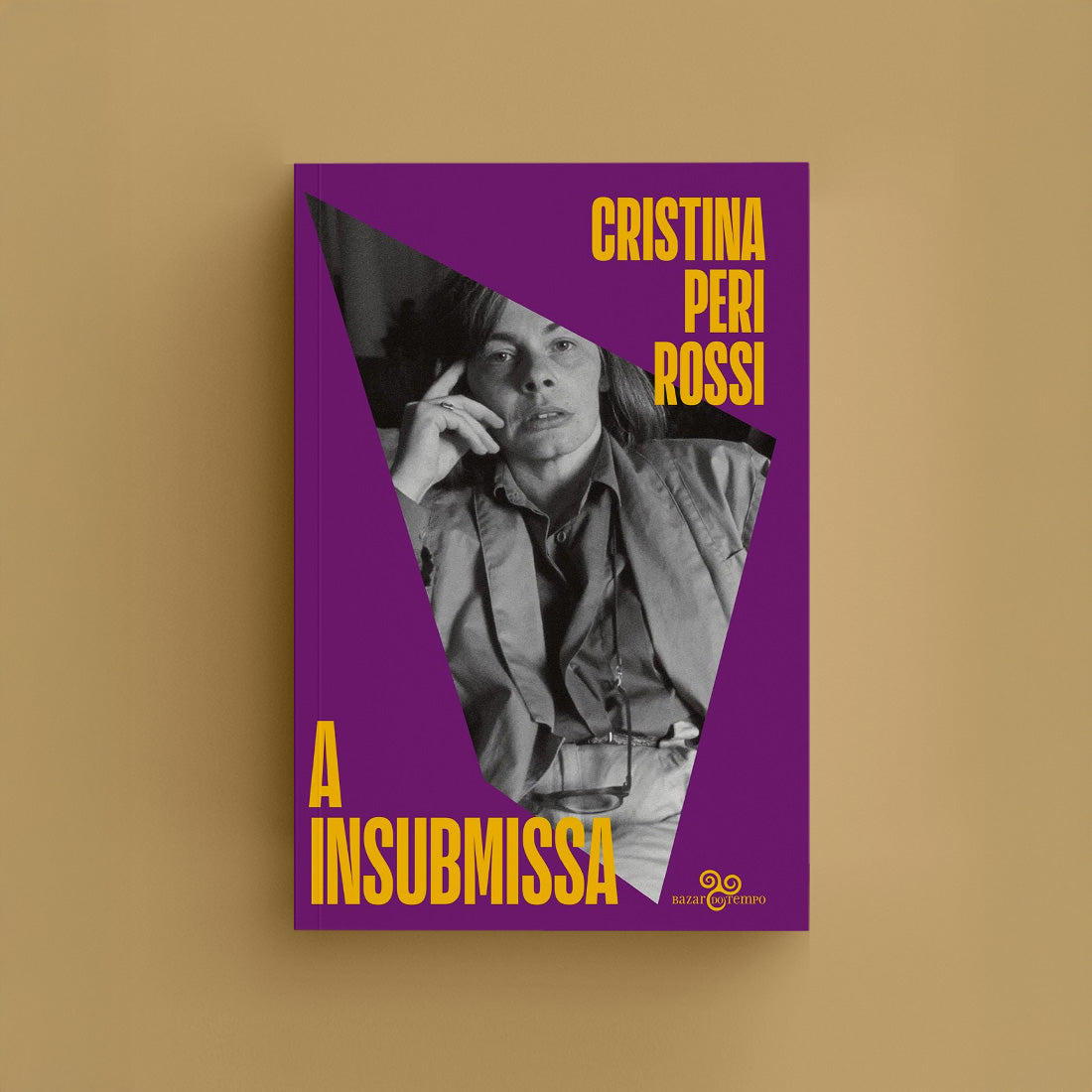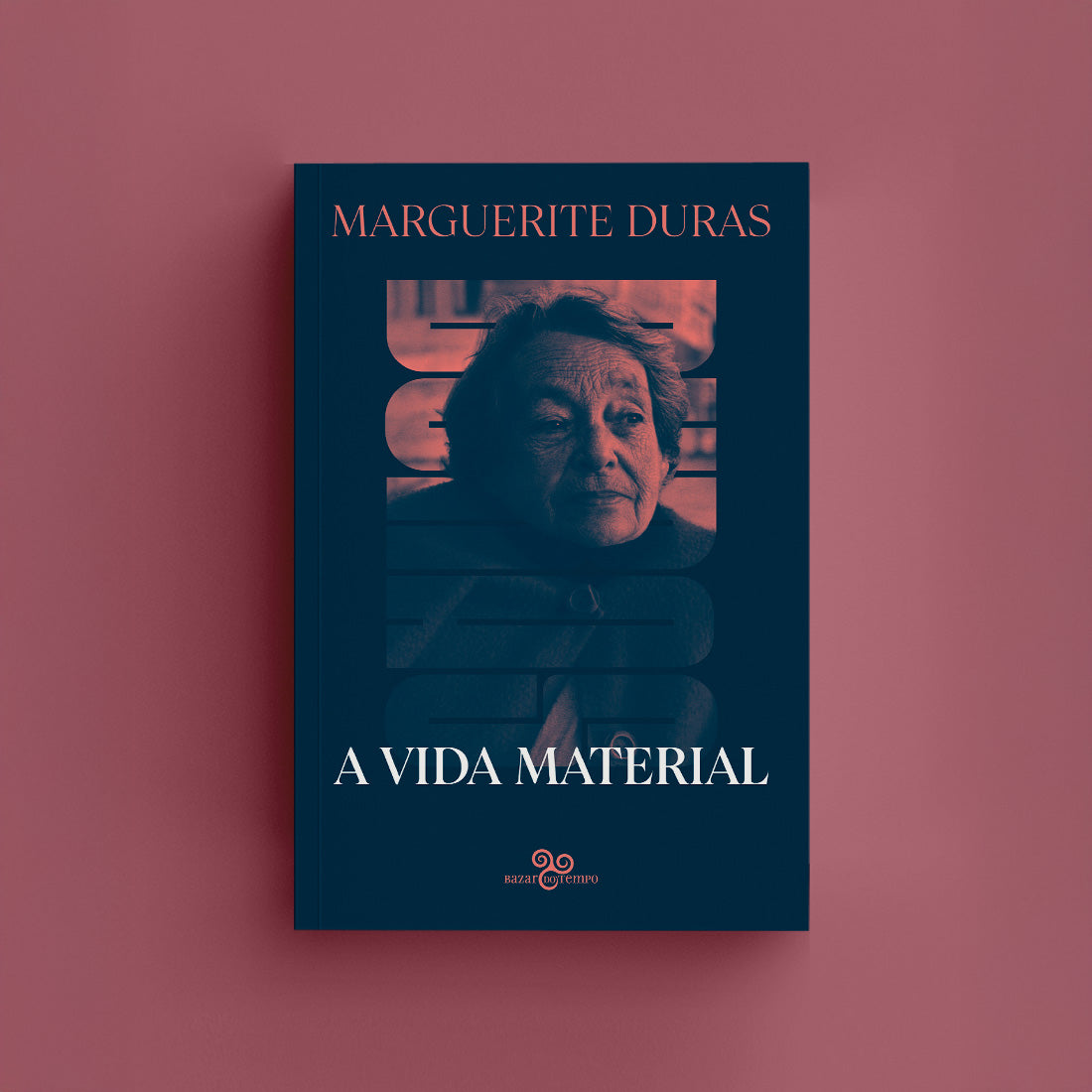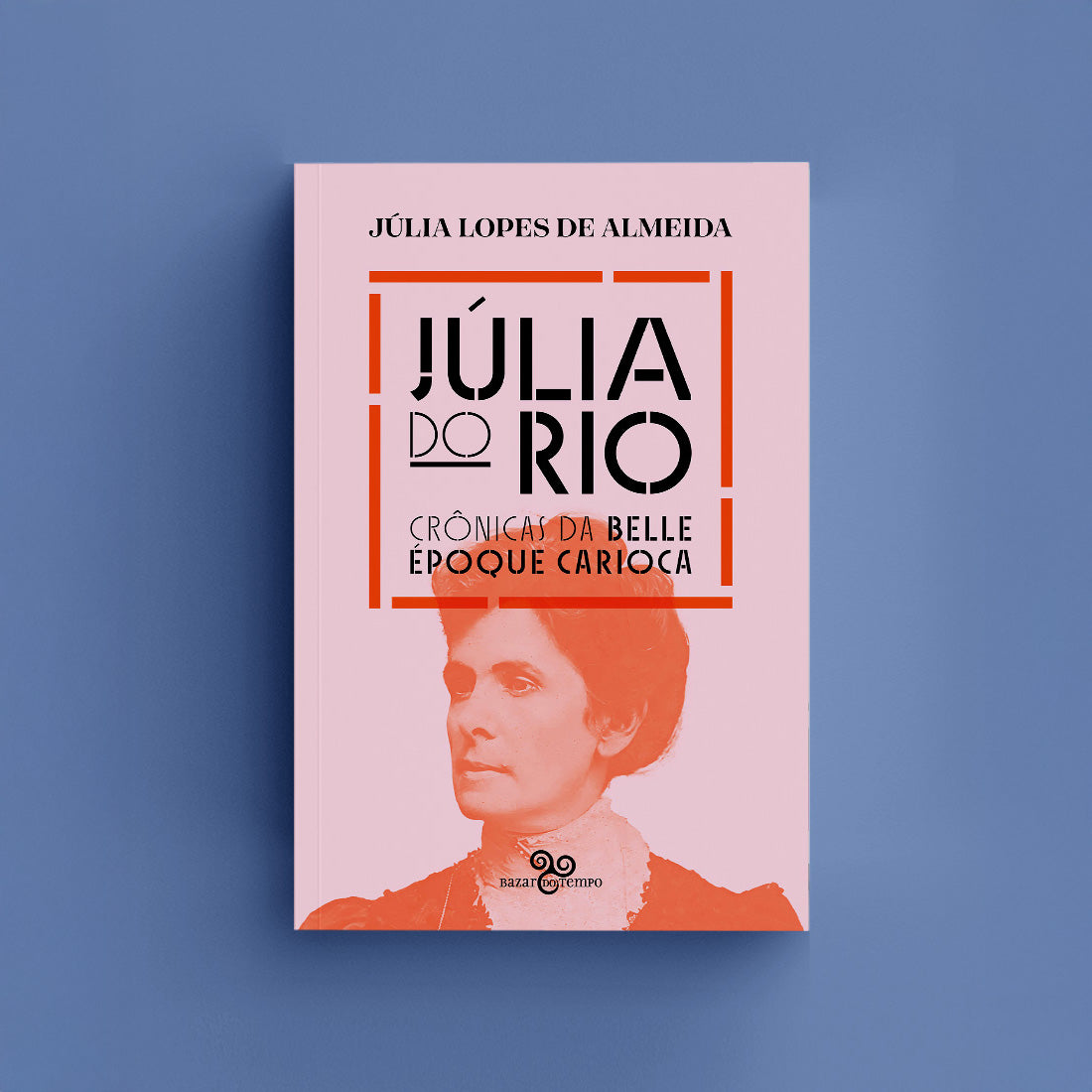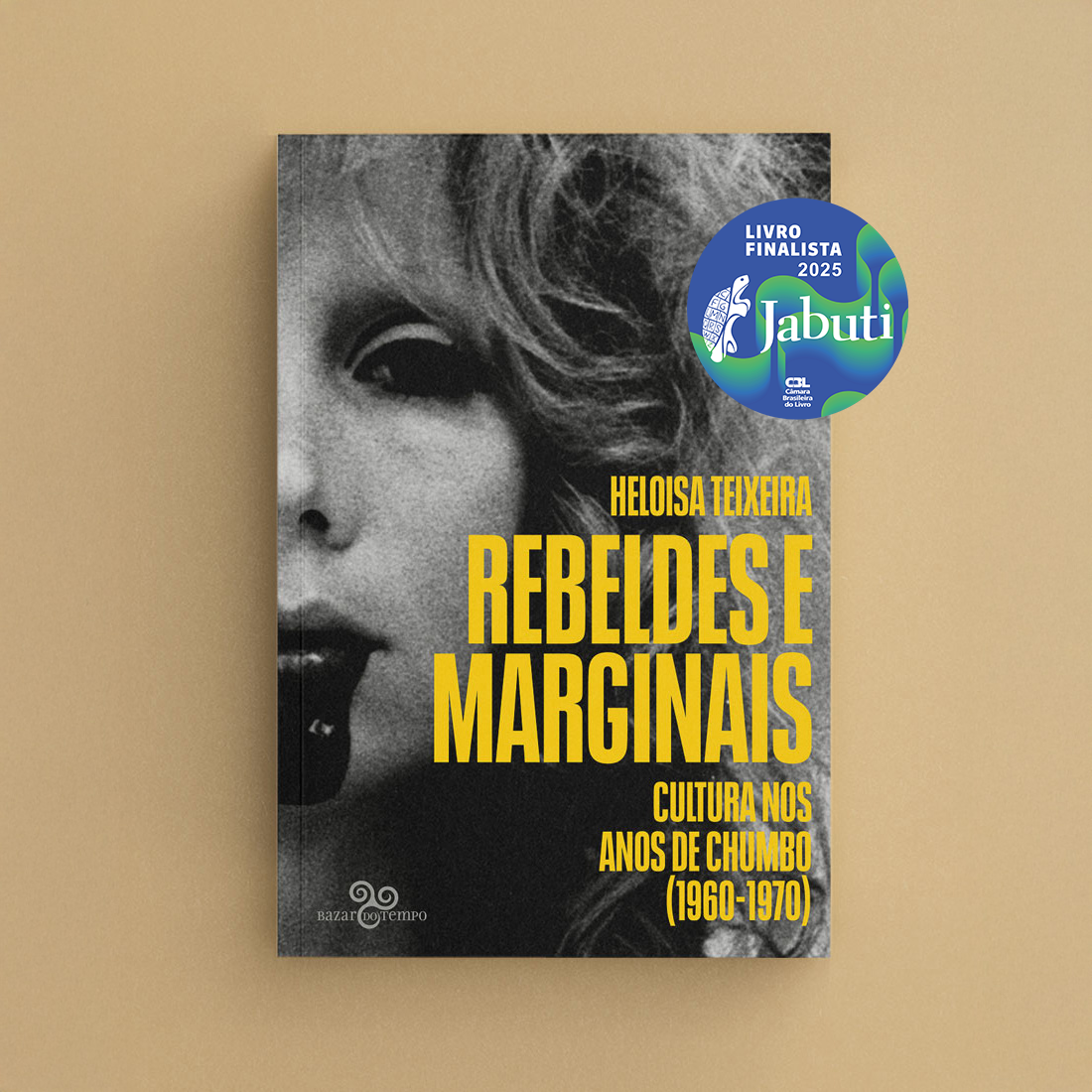ENTRE REALIDADE E FICÇÃO, A VIDA
Anita Rivera Guerra
O ato de construir – e reconstruir – uma vida a partir de palavras não é algo estranho a Cristina Peri Rossi. Com mais de quarenta livros publicados, entre contos, poesia, romances e ensaios, são incontáveis os desdobramentos reais e ficcionais oferecidos pela autora desde 1963, quando publicou Viviendo [Vivendo] com apenas 22 anos. Por isso, talvez, não surpreenda a forma com que a ganhadora do Prêmio Cervantes de 2021 narra, em A insubmissa, a sua versão da própria vida nessa espéciede romance de formação (Bildungsroman) feito de colagens de memória e ficção que parte de suas primeiras lembranças e atravessa os anos até chegar à adolescência. Podemos ler esse livro, também, como uma tentativa de pôr em palavras uma “pré-história” da Peri Rossi mais conhecida, aquela que em 1972 teve que sair às pressas de seu país de origem, o Uruguai, fugindo de um governo autoritário que logo se transformaria em uma ditadura civil-militar. Nesse sentido, o relato da própria infância, entrelaçado a prolepses do começo do exílio em Barcelona, onde vive até hoje, é também uma forma de contar uma história que não pôde existir: a de uma vida interrompida pela violência de um Estado que tentou apagar sua presença já prolífica no mundo intelectual e político de Montevidéu, considerando-a uma “inominável”, proibindo seus livros e qualquer menção a ela na mídia uruguaia.
A insubmissa não é, porém, uma autobiografia. E mais do que as considerações formais em torno das modalidades da autoficção, do romance autobiográfico e outras tantas, o que parece estar em questão nessa obra é uma espécie de fundação mítica — pegando emprestada a fórmula borgiana — do sujeito da escrita, que no corpus literário de Peri Rossi equivale ao sujeito do desejo. Em toda a sua obra, é pelo desejo que se dá a linguagem, ou melhor, nas palavras dela: “a linguagem procura achar uma forma em algo inominável, o desejo”. É justamente pela chave do desejo — e da linguagem — que A insubmissa se apresenta desde o princípio; o desejo também fundacional, pela lente da psicanálise, de uma criança pela mãe: “Da primeira vez que me declarei a minha mãe, eu tinha três anos” (p. 7). A este se seguem diversos outros, dentre os quais o interesse romântico é apenas um, embora não menos importante. O gosto pela aventura, o apreço pelas plantas e pelos animais, a curiosidade de saber como as coisas funcionam e, com o passar dos anos, a paixão pela música e pela literatura, se somam à lista, que pode se resumir em um só ponto: o desejo de descobrir o mundo, em suas alegrias, angústias e tudo o que está no meio. Afinal, como Peri Rossi afirma no poema “Infância”, de 1987, “Ali, no começo, / todas as coisas estavam juntas, / infinitas no número / e na pequenez”.
Se para a autora a infância se apresenta nessa unidade na qual se encontram infinitamente “todas as coisas”, A insubmissa parece ser, de fato, um encapsulamento do universo literário de Peri Rossi, um microcosmo que engloba elementos presentes já em suas primeiras obras como a própria infância, o erotismo, a experimentação com a linguagem, e, claro, a insubmissão. Um dos numerosos exemplos é o romance El libro de mis primos [O livro dos meus primos], de 1969, no qual o pequeno Oliverio descobre as belezas e aflições do mundo no interminável quintal da casa da família enquanto os primos Alejandra e Federico exploram o prazer sexual e o ímpeto revolucionário. Outro, posterior, porém semelhante, é o conto “La rebelión de los niños” [A rebelião das crianças], de 1980, considerado pela autora uma premonição dos sequestros de filhos e filhas de presas políticas que viriam à tona após as redemocratizações, posteriores à publicação da história. Neste, dois adolescentes encontram o amor enquanto planejam se rebelar contra os militares da instituição em que estão encerrados. Em ambos, assim como em A insubmissa, existe uma inconformidade com as injustiças aparentemente inalteráveis do mundo; aquelas que regem a existência de uma hierarquia entre adultos e crianças, humanos e animais, homens e mulheres, heterossexuais e homossexuais, entre muitas outras.
Essa inconformidade está, de variadas formas, presente em cada capítulo desse livro: desde a relação conturbada e violenta com o pai até a revelação, por parte de uma amiga que, assim como ela, estava apaixonada por outra menina, de que as duas iriam para o inferno, passando pela misoginia do tio que afirmava que as poucas mulheres que ousavam ser escritoras terminavam por suicidar-se. De todas as situações que se apresentam, Peri Rossi se desvencilha com inteligência e humor também característicos de sua obra. É brincando com os gêneros, tanto os literários quanto os sociais, e os artifícios da linguagem e suas metáforas — ou “mefátoras”, como a pequena Cristina diz à tia —, que seus personagens e ela própria atravessam essa grande aventura que é a vida.
A insubmissa é, de fato, feito de travessias. Naquela tradicional de todo romance de formação, que constitui um arco narrativo pelo qual o protagonista se torna sujeito, estão inseridas uma série de outras: a dela, aos cinco anos, enviada ao interior do Uruguai, por instruções do médico da família; a dos avós genoveses, que muito antes de seu nascimento cruzaram o Atlântico, como tantos outros imigrantes italianos, em busca de uma vida melhor em países que encorajavam sua chegada; a dos vizinhos fugidos de perseguições políticas e raciais de uma Europa em conflito e, claro, a do próprio exílio, no caminho oposto ao dos avós, em um navio que zarpava rumo a Gênova, embora ela tenha desembarcado na capital catalã. A Montevidéu de Peri Rossi é babélica e multicultural, um lugar “onde o lojista polonês era vizinho do sapateiro armênio, este do carvoeiro italiano, o açougueiro era espanhol, o dentista iugoslavo, o atendente alemão e o marceneiro bielorrusso” (p. 52).
Daí, para a autora, sua caracterização enquanto uma cidade fundamentalmente nostálgica, “sem tempo, sem passado, suspensa como uma bolha de sabão, e, por isso mesmo, exonerada do futuro”, como escreve em “La ciudad de Luzbel” [A cidade de Luzbel], conto de 1992 dedicado à capital uruguaia, que terminou por ser motivo de sua própria nostalgia a partir do exílio, potencializada pelo lugar que sua cidade natal ocupa em seu imaginário quando deixa o país sem possibilidade de retorno. E se essa sensação de estrangeiridade aparece de forma constante na literatura pós-exílio de Peri Rossi— sintetizando-se no verso “Minha casa é a escrita” do poema homônimo do livro Habitación de hotel [Quarto de hotel] (2007) —, ao lermos A insubmissa confirmamos que o tema é anterior ao deslocamento geográfico e se revela realmente ontológico, como já se nota nas obras publicadas antes de 1972. A relação de estranhamento com o mundo experienciada pela jovem autora-personagem se mostra explícita em diversas passagens ao longo do romance, compondo uma percepção geral de não-pertencimento que corrobora com seu caráter de insubmissão, fazendo-a questionar os imperativos sociais, familiares, religiosos etc. — em suas palavras, os “o que dirão” — e se encontrar naquilo que precisamente desloca essas imposições: a música e, principalmente, a literatura.
É pela literatura que ela encontra o próprio lugar enquanto sujeito, o que neste livro aparece em pelo menos dois momentos: no monólogo epistolar dela com seu primeiro amor de escola, cujos pais confiscavam as cartas por serem demasiado “apaixonadas” (p. 166), e na ocasião em que seu pai a trancava no banheiro por horas até que ela pedisse perdão pela indisciplina ou revolta da vez. Presa no recinto minúsculo, recusando-se a pedir desculpas por um ato de defesa à mãe ou a ela mesma, Cristina desenha nos azulejos a própria rua, em todos os detalhes que consegue lembrar. De sua prisão, ela esboça o mundo exterior como quem traça uma linha de fuga através das paredes, em um movimento similar ao que realiza em sua literatura do exílio, na qual a escrita assume também um lugar de escape e subversão: “Enquanto sofro pelo temor de não poder mais escrever, no exílio, escrevo. Enquanto temo a castração, escrevo. Enquanto padeço da dor, do desenraizamento, escrevo”, a autora afirma ter anotado em um diário da época no prólogo de Estado de exílio [Estado de exílio], elaborado entre 1973 e 1975, mas publicado apenas trinta anos depois, em 2003. No exílio, como na escrita, “Partir / é sempre partir-se em dois”.
Enquanto Peri Rossi escreve, nós lemos, e com ela percorremos a tênue fronteiraentre realidade e ficção no qual A insubmissa está inscrito. Para além de algumas poucas informações que podem ser confirmadas — ao menos por suas próprias palavras, em entrevistas e ensaios anteriores à publicação do livro —, nos resta imaginar em que momento uma coisa se torna a outra, apenas para chegar à conclusão de que não importa. Afinal, o que é a memória senão uma história que contamos para nós e para os outros, construindo — e reconstruindo — uma narrativa entre as cenas que lembramos e as que não? Entrelaçadas às possíveis memórias da autora, há nomes e locais por vezes deliberadamente modificados por ela. Estão também, no livro, as memórias impossíveis, pertencentes a pessoas que lhe contaram ou não sobre as suas vidas, como o desespero de sua bisavó perante a morte iminente do marido e o terrível relato das pessoas presas e torturadas pelos militares em pleno campo uruguaio, contadas em tantos detalhes quanto as da autora-personagem — fragmentos de uma memória coletiva marcada pelos traumas de uma família e de um continente. Entre o individual e o compartilhado, entre o que vivemos e o que escutamos e imaginamos, se dá a literatura, entramando as múltiplas partes por meio de palavras. Como no resto de sua obra, tanto ficcional quanto poética, em A insubmissa Peri Rossi nos convida a também descobrir nós mesmas e o mundo, e a confirmar que a escrita é, sempre, insubmissa.
***
Traduzir é, por definição, transladar. Mudar algo de lugar, fazer algo viajar, percorrer o trajeto entre um ponto e outro. Nesse sentido, aquilo que é traduzido está fadado a um exílio permanente, uma nostalgia impossível do original de onde se parte e a angústia sobre o que se perde no caminho. Peri Rossi, ela própria tradutora para o castelhano de nomes como Charles Baudelaire, Graciliano Ramos, Monique Wittig e Osman Lins, afirmou, em uma conferência: “Traduzir Clarice Lispector foi, para mim, uma experiência inquietante, fascinante e ao mesmo tempo frustrante (estou falando de traduzir ou de fazer amor?)”. A autora compara o ato de traduzir ao de se relacionar amorosa e sexualmente com um outro, pontuando que ambos conduzem “de maneira inevitável a uma simbiose na qual a fidelidade, a traição, a propriedade e a apropriação são mecanismos emocionais e apaixonados”.
Com essa tradução não foi diferente. Como em uma relação, senti a necessidade de requisitar, ceder e negociar com a voz autoral de Peri Rossi em prol de um resultado que se espera harmonioso ao longo do caminho entre um idioma e outro. E para isso — como em uma relação — tive que fazer escolhas que por vezes se distanciavam e por outras se aproximavam do texto original, nesse jogo por uma precisão impossível que é o sonho e o pânico de toda tradutora. No caso de A insubmissa, a tarefa é ainda mais delicada. Trata-se de um livro que, como a própria autora, está em uma espécie de entrelugar no que diz respeito à linguagem, que transita entre o espanhol falado em seu Uruguai natal — por si só uma mescla de diversas línguas indígenas, africanas e europeias — e o castelhano tradicional, embora viva há mais de cinquenta anos na capital catalã. Como a cidade de Montevidéu representada em suas páginas, A insubmissa é uma Babel que se revela na combinação de expressões e palavras e mesmo conjugações verbais de múltiplos lugares, dando razão à seguinte afirmação da autora, anterior à publicação do livro: “Escrevo com minhas vozes, não com minha voz”.
Aceitei com pesar que nem sempre era possível preservar esse caráter multilinguístico na tradução para o português, embora tenha por vezes mantido algumas palavras ou construções estranhas ou menos comuns aos leitores lusófonos, especialmente quando a proximidade entre os idiomas permitia uma transparência em maior ou menor grau. O principal exemplo é, provavelmente, a palavra bichicome, exclusivamente uruguaia e que ocupa um lugar central na narrativa. Considerei-a essencial para preservar o estranhamento que a própria personagem experimenta quando a escuta pela primeira vez. Outras decisões partiram de preferências sintáticas ou estéticas. Mas, se algo invariavelmente se perdeu nesse percurso, como bem se sabe, a perda também traz consigo uma possibilidade de ganho — e é, em si, uma arte, nos ensina Elizabeth Bishop em “One Art” [Uma arte], de 1976, ao qual Peri Rossi faz uma referência direta em seu “El arte de la pérdida (Elizabeth Bishop)”, de Estado de exilio. Nesse mesmo ano, já em Barcelona, Peri Rossi publicou Diáspora. Um dos poemas do livro diz: “Para cada mulher / que morre em ti / majestosa / digna / malva / uma mulher / nasce em plenilúnio / para os prazeres solitários / da imaginação / tradutora”. Espero, com essa tradução, compartilhar os prazeres e as aflições que A insubmissa me proporcionou — não só como tradutora, mas antes de tudo como leitora.
Anita Rivera Guerra, pesquisadora e tradutora. Atualmente, finaliza o doutorado no Departamento de Línguas e Literaturas Românicas na Universidade Harvard, Cambridge/Massachussets, onde também realizou mestrado. Pesquisa a obra de Cristina Peri Rossi desde 2016. É mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com graduação em Jornalismo na mesma instituição.