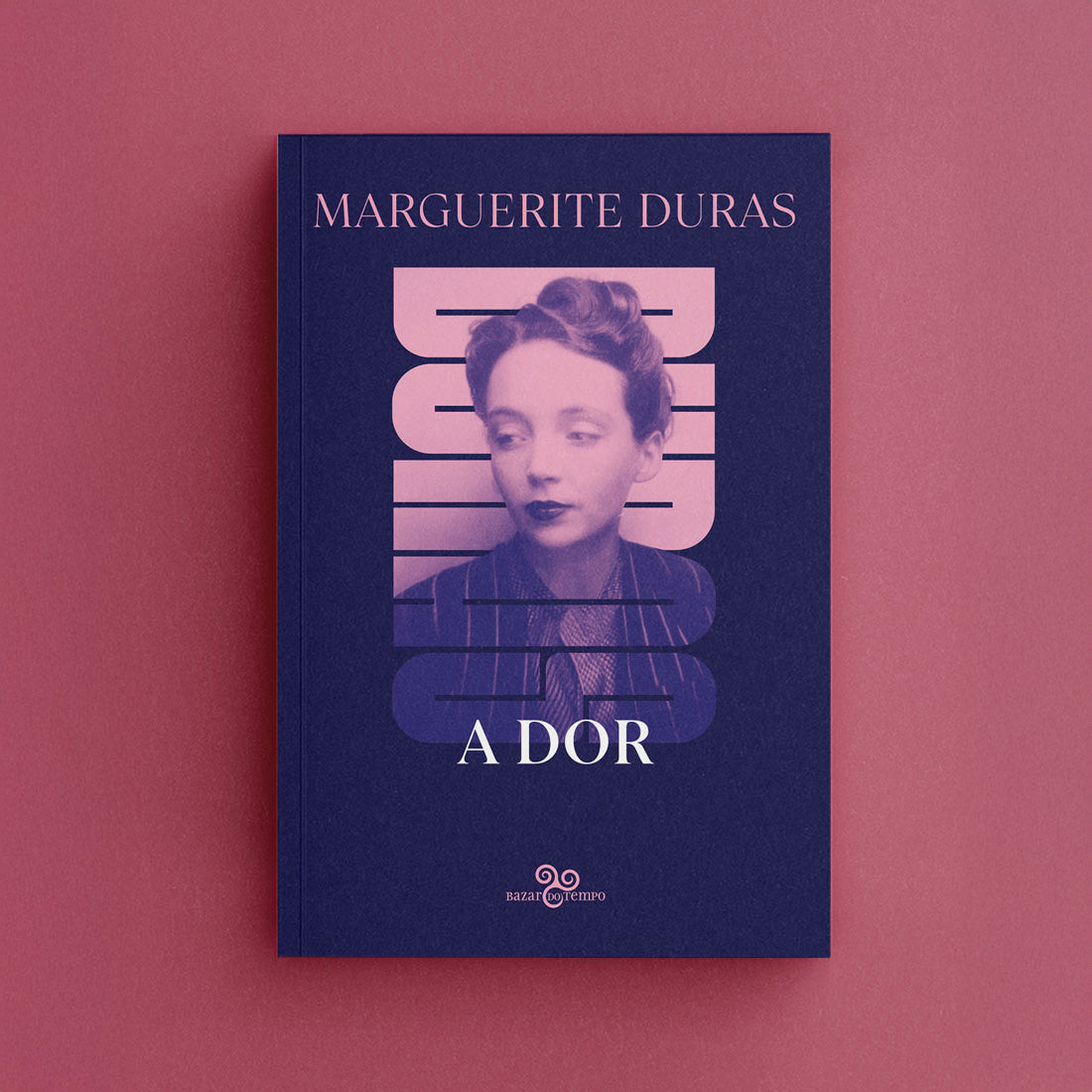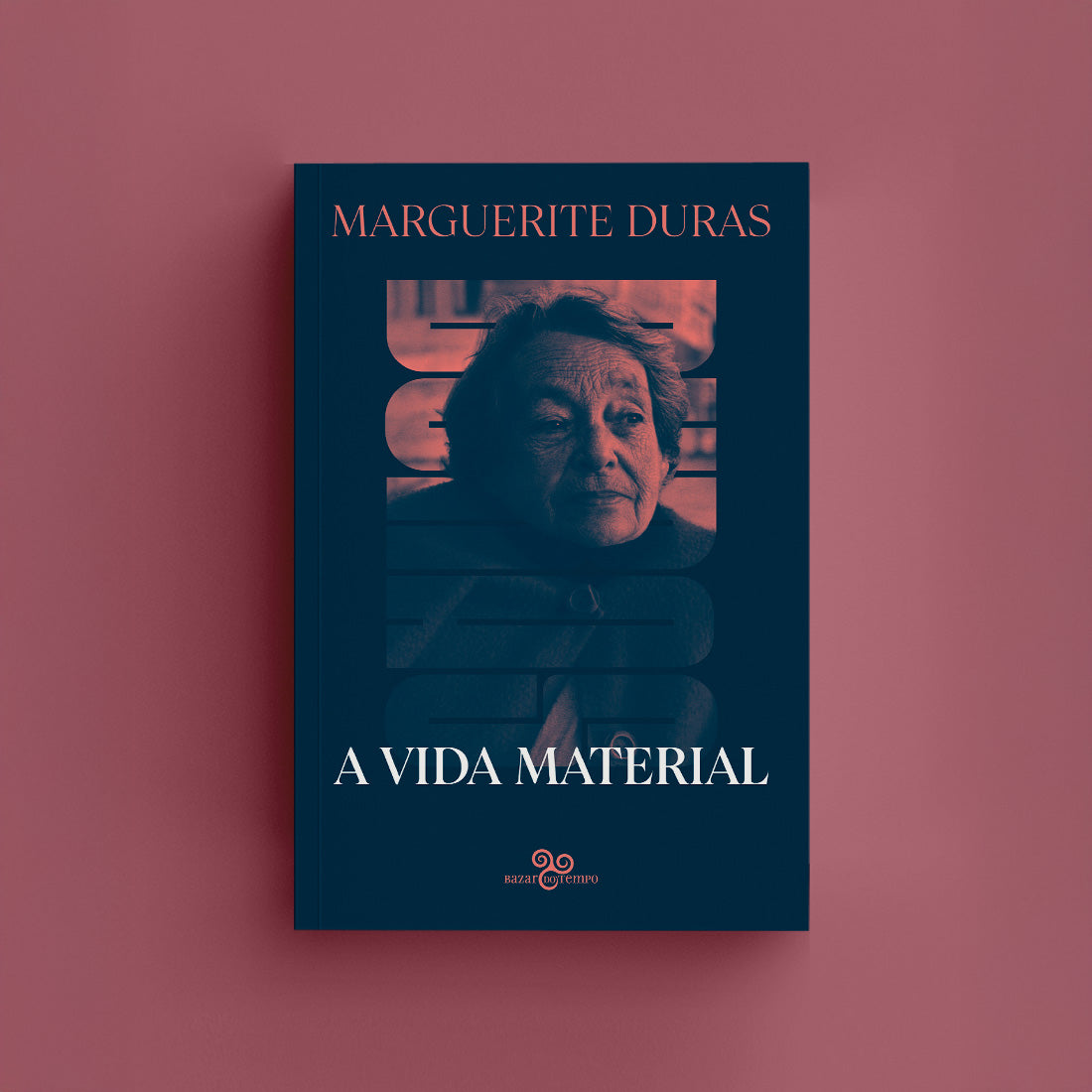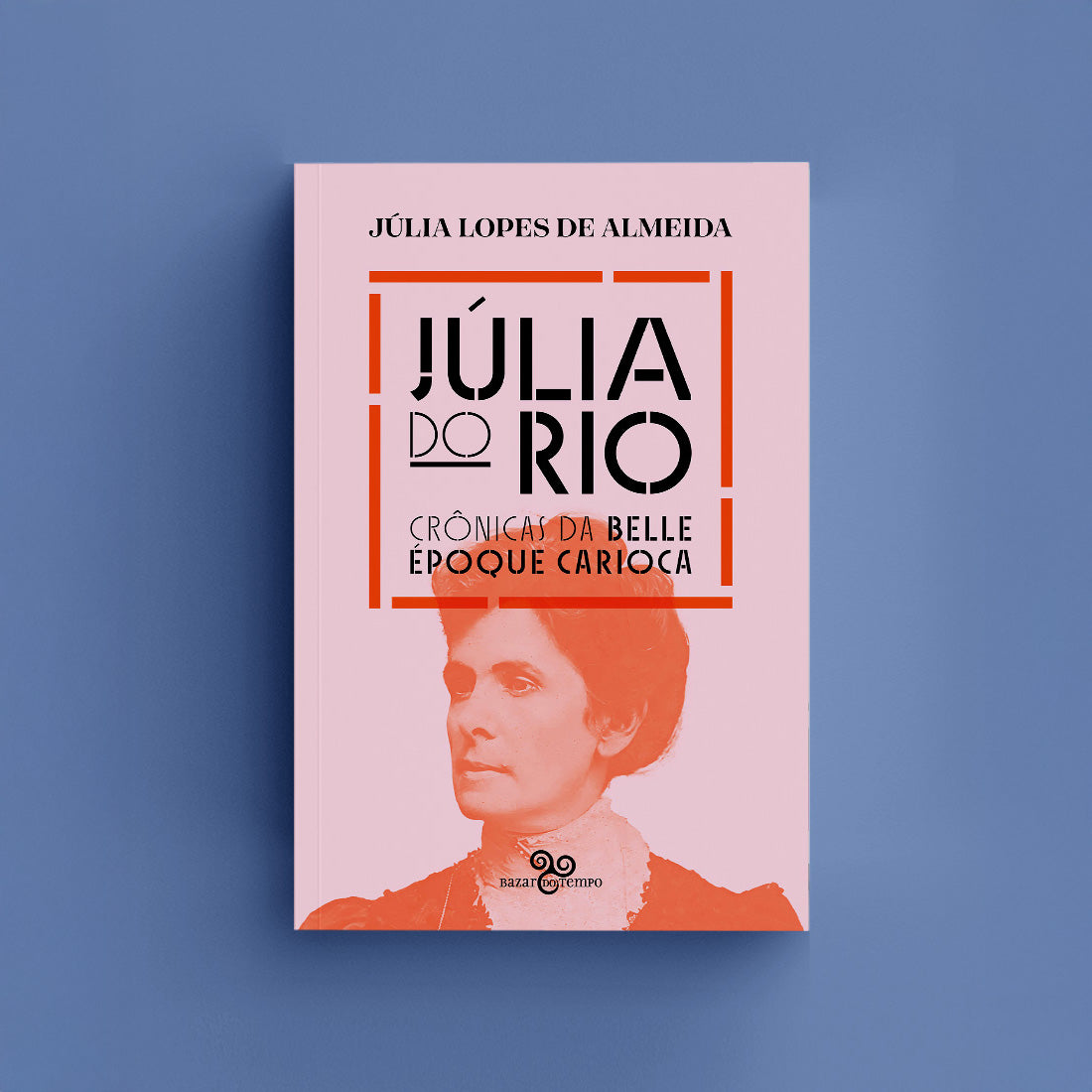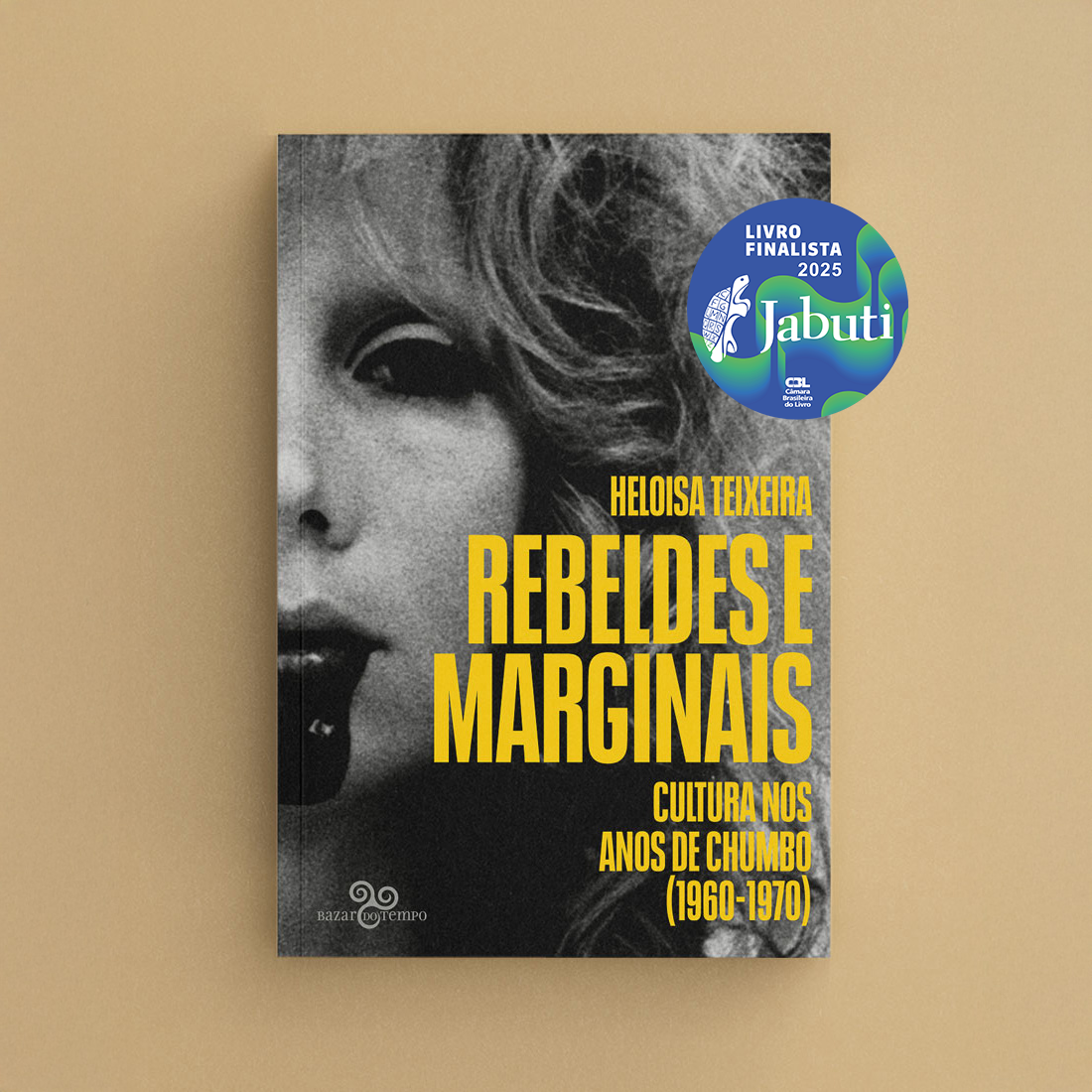Tatiane França
Logo no princípio de minhas aventuras de leitora através do grande universo de Duras, me deparei com A dor (La douleur). Cinco cadernos que teriam sido encontrados por Marguerite anos depois de escrevê-los, nos seus armoires bleus, e que foram publicados pela P.O.L. em 1985. Textos que teriam sido escritos durante a Segunda Guerra. O primeiro caderno, homônimo do título que reúne os textos em um mesmo volume, teria sido escrito enquanto ela esperava por seu então marido, Robert Antelme, preso e deportado pelos alemães a campos de concentração no fim da guerra.
A leitura de A dor foi para mim um arrebatamento, no sentido mais grave que essa palavra possa implicar, e fui convocada por esse texto a escrever. Perfurantes, secas, dolorosas – essas foram algumas das palavras que definem a sensação que tive ao ler aquelas páginas, especialmente no que tange ao primeiro dos cadernos, ao qual dediquei minha dissertação de mestrado.
Os textos presentes ali pareciam marcar um ponto fora da curva na literatura de Duras, ficando mais longe do radar da maior parte das análises críticas feitas de sua obra. Em prefácio ao primeiro caderno, Duras disse não ter lembrança alguma de tê-lo escrito. A história é que ela teria se deparado com os cadernos enquanto procurava por um caderno de receitas. Na ocasião de uma publicação encomendada pela revista Sorcières em 1976, a autora teria então publicado pela primeira vez, e anonimamente, um trecho deles, o texto “Pas mort en déportation”. O texto publicado coincide também com as últimas páginas do primeiro caderno, mais precisamente com sua última dezena de parágrafos.
Quando enfim foram publicados sob o título A dor, Duras afirmava não ter alterado o texto original, o que suscitou na crítica um certo ceticismo, como é o caso de Fréderic Ferney, que diria no Le Nouvel Observateur, não sem ironia, que “os céticos terão dificuldade em acreditar que ela não retocou essas páginas, pois A dor tem o cheiro de sua tinta de hoje”. Como Ferney, não foram poucas as reações que visavam descreditar os cadernos e o discurso da autora em relação a eles. Outros, no entanto, saíram em sua defesa, como Michèle Gazier no L’Express, afirmando que “desenterradas, reescritas ou simplesmente tiradas da poeira, essas páginas transmitem o sopro da morte”. Muitos anos mais tarde, Sophie Bogaert analisaria os manuscritos e afirmaria que a fidelidade de Duras a eles é visível, ainda que alterações tenham de fato sido feitas.
Como defendi ao longo da minha pesquisa, o valor histórico de A dor é inegável e transcende a minúcia da querela sobre a “verdade” de sua produção, além de tensionar o debate entre os limites do literário diante de um testemunho. Pois, claro, Duras não viveu os campos de concentração. Se viveu alguma coisa, foi talvez a completa ignorância deles, não podendo mensurar o que efetivamente se passava com seu então marido, a realidade cruel à qual ele estava subjugado. Mas Duras viveu a guerra, seu efeito e sua crueldade, e, escrevendo, foi disso testemunha. E por ela foi atravessada definitivamente, no cerne que entrelaça pessoa e escritora.
Em republicação do primeiro caderno no conjunto de textos Outside, Duras acrescentou alguns parágrafos antes do texto, e em um deles lê-se o seguinte:
“Não se trata de um texto político, é um texto. Sem qualquer qualificação. Creio tê-lo escrito para não mais me esquecer do seu conteúdo. Não esquecer aquilo em que um homem se pode tornar, o que é possível lhe infligir. E o amor que permanentemente é possível dedicar-lhe. Aqui, era esse o caso.”
Chamar de “um texto” as páginas que descrevem o retorno assombroso do corpo vivo-morto de Robert Antelme, em oposição a um texto político, traça um risco: a separação de uma memória individual, ou ainda, de um olhar único – o de Marguerite – para um corpo único – o de Antelme –, em contraposição a um texto que queira se colocar politicamente ao descrever um corpo sobrevivente da guerra. E por isso mesmo, um texto sobre o amor “que é possível dedicar-lhe”. No entanto, dizê-lo “sem qualificação” não exime esse texto de seu cunho político. Ainda que entendamos isso como uma tentativa de Duras no sentido de singularizar sua experiência, ou de descaracterizá-la como típica de um texto engajado, a descrição de um corpo que retorna dos campos de concentração nunca seria apolítica. E não o é: a escrita desse caderno configura uma tomada de posição, talvez não intencional, mas ainda assim uma tomada de posição. E além do mais, o ódio e o sentimento de injustiça que fazem parte dessa escrita moldaram muito da obra de Duras.
A dor – compreendidos nessa palavra tanto o título do caderno quanto o sentimento experienciado – é insuperável e se sustenta ao longo da obra durassiana. É nesse sentido que lemos, em um de seus últimos livros, o seguinte:
“Estar sozinha com o livro ainda não escrito significa estar ainda no primeiro sono da humanidade. É assim. É também estar sozinha com a escrita ainda não semeada. Tentar não morrer por isso. Estar sozinha em um abrigo durante a guerra. Mas sem preces, sem Deus, sem qualquer pensamento salvo o louco desejo de matar a nação alemã até o último dos nazistas.”
Em 1993, ano da publicação de Escrever na língua original, onde se encontra o trecho acima, a descrição da escrita segue vinculada ao “desejo de matar a nação alemã até o último dos nazistas.” Diferentemente de Robert Antelme, que responsabiliza inerentemente a espécie humana, o massacre dos anos 1940 sempre teve nacionalidade para Marguerite. E esse é um pensamento que consome até a possibilidade de outros pensamentos. Um pensamento que, quando se encontra na espera interminável, quando tudo que lhe aparece é a visão do corpo do marido numa vala, ocupa o espaço vazio. A dor, a escrita e o ódio andam juntos, costuram-se. E permanecem.
Não deixamos de estar, portanto, diante de uma escrita política, direcionada. Uma escrita de guerra. “Estar sozinha com o livro não escrito significa […] estar sozinha em um abrigo durante a guerra.” A solidão da escrita atravessa as páginas do caderno, reforçada por um sentimento devastador trazido pela ausência de notícias e pela ausência física de Robert Antelme. Marguerite, enquanto sujeito da escrita, vive um luto impossível, interminável, e que ganha novas nuances com o retorno de Robert Antelme dos campos. Lendo A dor, nos colocamos diante de uma ausência jamais preenchida, e que faz com que o corpo daquela que escreve jamais retorne integralmente à sua imagem.
O caderno, segundo Bogaert em posfácio a um dos volumes da Pléiade, teria se chamado La guerre, “A guerra.” Quando muda de ideia e escolhe La douleur, “A dor”, Marguerite faz um pacto com a letra ali gravada, onde deixava arquivada uma parte de si que poderia, paradoxalmente, ser de si mesma desvinculada. A literatura foi para Duras um lugar apesar de tudo, ou ainda, um lugar com — com a dor, com a morte —, uma pele possível, através da qual ela conseguiu fundar também um lugar para essa “substância da dor.” A dor apesar de Duras.
A dor é, portanto, para Duras, um compromisso: compromisso com a escrita enquanto memória, enquanto sobrevivência possível diante da barbárie. Co-traduzir A dor foi, para mim, prolongar esse compromisso. Em cada decisão. Escolher manter a aspereza de uma frase, preservar a incompletude de uma imagem, ou resistir à tentação de suavizar a violência das palavras tornou-se uma forma de escuta, de partilha da dor. Traduzir foi um exercício ético em resposta à convocação que a obra me impôs desde a primeira leitura.
Em Escrever, Duras diz a Michelle Porte que passou uma parte de seu dia observando uma mosca morrer, e que a amiga teria “rido um bocado”. Ao passo que acrescenta: “A morte de uma mosca é a morte. É a morte em marcha para um determinado fim do mundo, que estende o campo do sono derradeiro.” Existe o direito de escrever sobre a morte de uma mosca, mesmo sabendo que quando um espécime delas morre, “não dizemos nada, não registramos nada.” Isso é o que Duras nos revela: para a escrita, fica a tarefa de olhar uma mosca morrer e reconhecer nela uma força narrativa, de registrar a passagem, de tornar a morte uma força absoluta, inescapável — seja ela a morte de uma mosca, de um homem, de uma imagem, de uma parte do eu.
Para a literatura, fica a tarefa de lembrar-se dos mortos, de mantê-los vivos em letra; para nós, a tarefa de não deixá-los novamente morrer.
Tatiane França Rangel é doutoranda em Línguas e Literaturas Latino-Americanas na Princeton University e mestre em Teoria da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Sua pesquisa investiga as interseções entre estudos sobre deficiência, teoria decolonial, feminismos latino-americanos e africanos e suas relações com a literatura e as artes visuais. Para a Bazar do Tempo, co-traduziu A dor, e traduziu A vida material, ambos de Marguerite Duras.