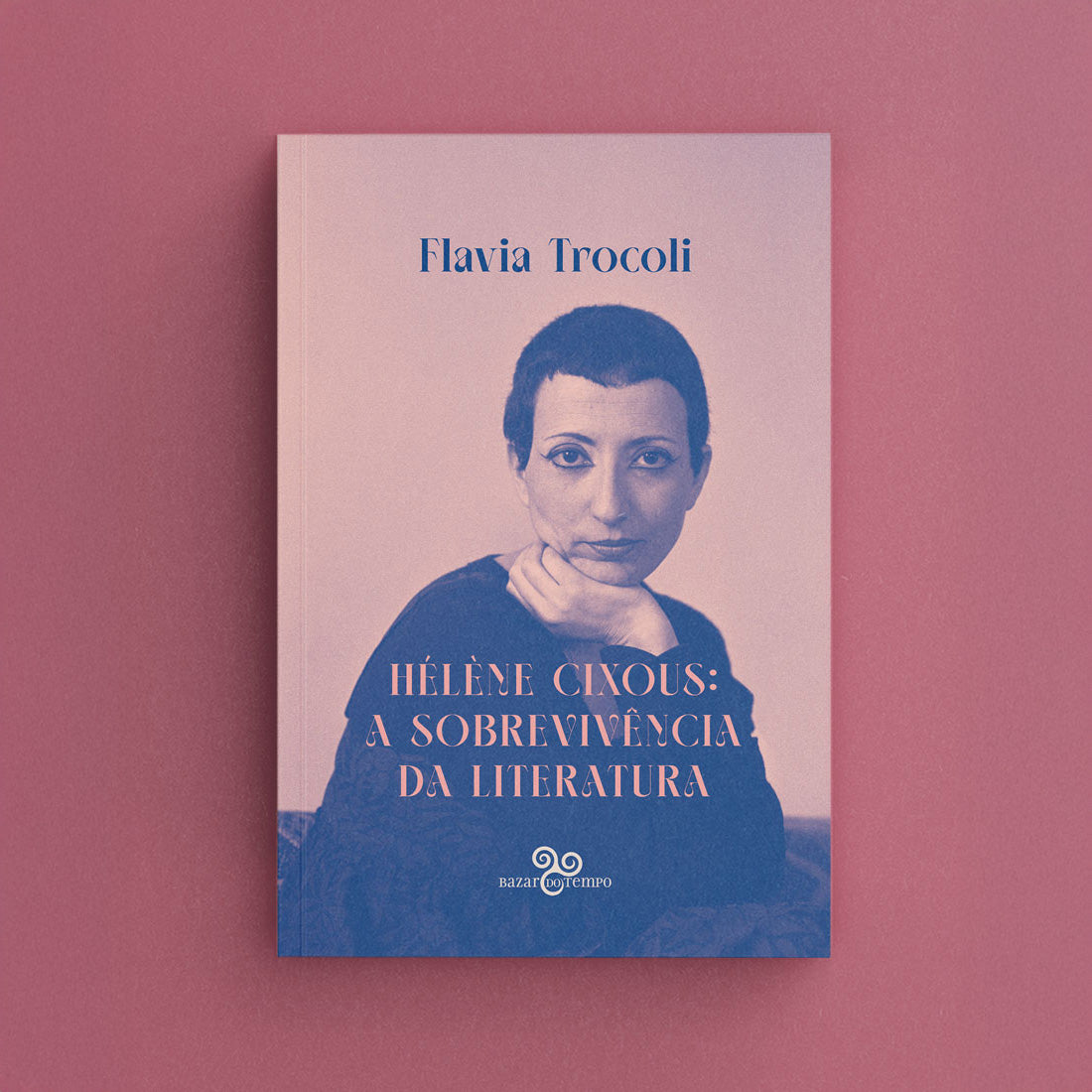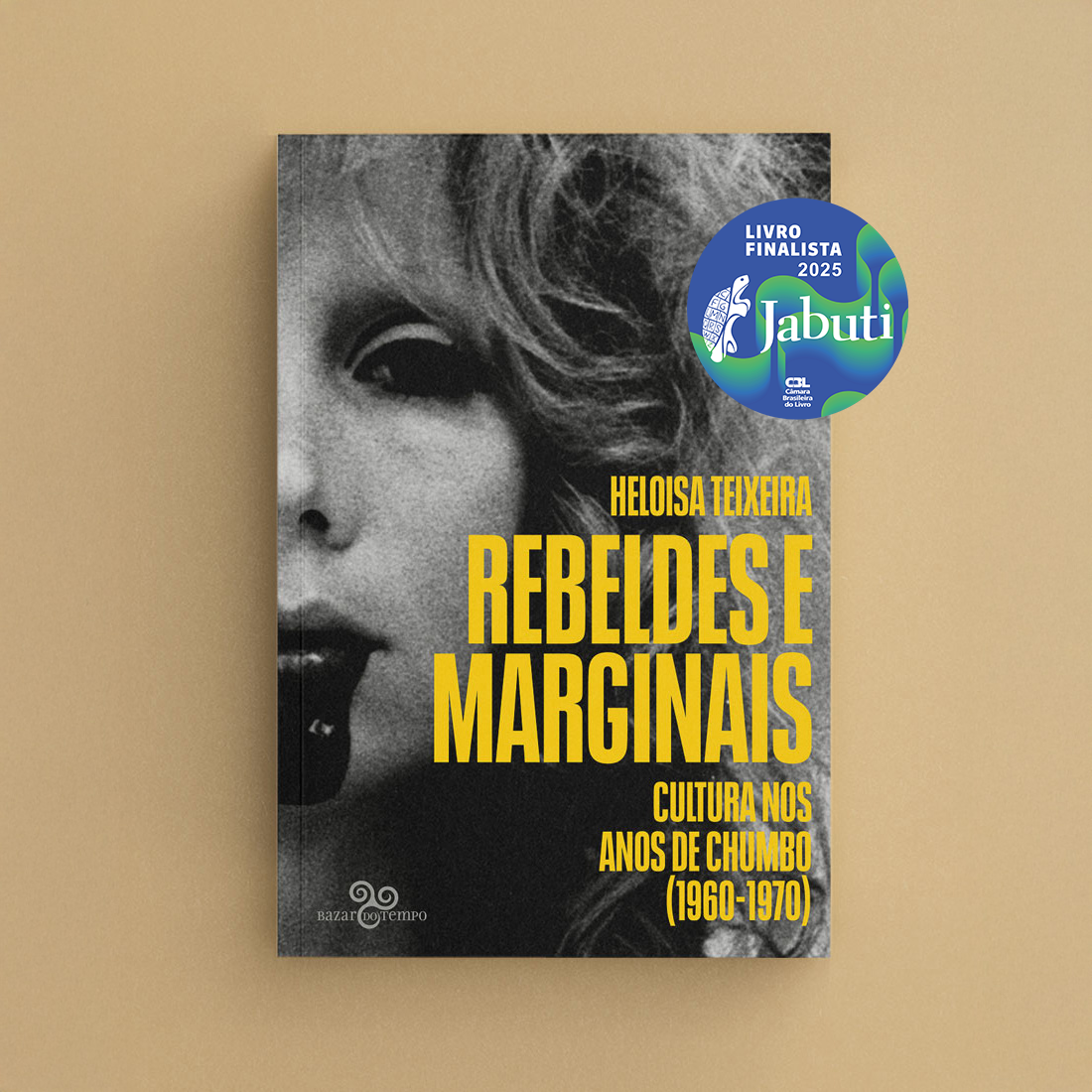Flavia Trocoli
Deixar[1] a escrita chegar em seu movimento incessante implica a pergunta: como recebê-la, enfim? Relançando-a, traduzindo-a, relendo-a, sem fim. Afinal: “Quando você tocou o fim, então o começo pode vir até você.” Neste breve texto, retorno a fragmentos escritos por mim em torno da chegada da escrita, do grito da literatura e de sua sobrevivência em tradução.
Começar pelo Riso da Medusa e passar à Chegada da escrita
“Eu falarei da escrita feminina: do que ela fará.” Assim, Hélène Cixous começa O riso da Medusa, publicado pela primeira vez em 1975 e, no Brasil, em 2022 pela Bazar do Tempo, na tradução de Natália Guerellus e Raísa França Bastos. Nessa primeira frase chama a atenção os verbos no futuro e um movimento de deslizamento entre falar, escrever, fazer.
Foi pela ênfase no movimento que apresentei A chegada da escrita, texto publicado primeiramente em 1976 e, depois, em 1986 como abertura para o livro Entre l’écriture[2], composto deste ensaio e de outros em torno de James Joyce, Clarice Lispector, Torquato Tasso e da pintura a partir de Água viva (1973), de Clarice Lispector.
A tradução de A chegada da escrita e sua publicação foi marcada por uma dupla contingência: o desejo de recolher e propagar as ressonâncias da tradução de O riso da Medusa e o desejo de fazer chegar ao público uma tradução feita a partir da reunião de mais de um ouvido em um grupo de leituras e discussões que, à época, chamei “Traduzir o idioma Cixous”.
O método de trabalho consistiu na divisão do ensaio em pequeninas partes para que cada leitor ou leitora a traduzisse sozinho ou sozinha e depois a apresentasse para leitura em voz alta para discussão em grupo. A escrita de Hélène Cixous, em sua dimensão microscópica, requer um trabalho de ourivesaria que, depois da tradução por mais de um ouvido, permaneceu ressoando em meu ouvido e em meu coração, na tentativa de dar a ela um corpo — ou um terceiro corpo, para lembrar o título de um dos livros da autora — que não apagasse integralmente a variedade das mãos tradutórias, mas que privilegiasse um ritmo mais próximo do texto de partida, em francês, sem especificidades destoantes no texto de chegada em português do Brasil.
Encenando a frase de Clarice Lispector, em Água viva, “Gênero não me pega mais”, a construção formal de A chegada da escrita é livre e sobrepõe ensaio, traço autobiográfico, cena literária, cena teatral. Escrito antes do encontro com o texto de Clarice Lispector, em A chegada da escrita abundam pontos de entrecruzamento — destacadamente com Água viva. Recolho deste algumas frases que, mesmo diferentes em sua singularidade essencial, nadam em mar comum: “Esta é a vida vista pela vida” (p. 31); “Renuncio a ter um significado” (p. 40); “escrevo-te uma onomatopeia, convulsão da linguagem” (p. 41); “Deixe-me falar puramente em amamentar” (p. 44); “Você que me lê que me ajude a nascer” (p. 48); “Minha história é viver” (p. 76). Escutar essas frases, em parataxe, me ajudou a imprimir um certo ritmo à versão final da tradução.
Com isso quero dizer também que traduzir o texto de Cixous implica escutar a literatura que ela ama e não cessa de ressuscitar. A chegada da escrita ouve as vozes das interdições que recaem sobre uma mulher e, muito próximo de Água viva, responde com a liberdade formal — isto é, com uma escrita. Levantado o véu da censura e da interdição, a tradução se faz de maneira provisória, porque desejando línguas vivas, ou: como em sono ou sonambulando no sonho infinito de seu inconsciente, como escreve Derrida de Cixous. Deixando, nesse sonho infinito, a escrita vir tal como poema do outro que “em livro se escreve rápido, em uma língua autofertilizante, densa, precisa, poliglota, polifônica.”[3]
Da maçã a Orange, de Ève a Sonia: sonhar à sombra da laranja
Cruzando o Atlântico, uma voz vem de longe, Clarice oferece a maçã, Hélène aceita em português — Eu aceito — e o ouvido traduz Orange. À maneira do sonho, Hélène Cixous soube receber a maçã de Clarice Lispector, no escuro, e transformá-la em Orange para deixar ressoar Oran — sua cidade natal na Argélia — e, também, ange (anjo) e Je (Eu). Fabrica-se, então, com o dizer de Lispector, um outro modo de traduzir-se, de insistir no começo e no primeiro nome antes da lei que exclui as mulheres, as crianças, o ínfimo — lei que prevê, predica, apropria-se.
Chamar escritaclarice é não esquecer que, em sua prática da escrita feminina — sempre por vir —, o Nome-do-Pai, lei que interdita, situa e hierarquiza, passa para a dimensão dos primeiros nomes de ninguém[4], nomes para um movimento singular da escrita: “sentir a coisa sem possuí-la”.[5]
Seguindo esses passos — o do “idioma Cixous”, segundo Derrida, e o da articulação entre o “amor de lobo”, aquele que dá ao cordeiro a sobrevida, e a tradução, segundo Marta Segarra — penso que, na sobrevida, há amor de lobo, há dois, renunciando à pulsão de devoração. O lobo oferece ao cordeiro a sobrevida. Podemos, assim, estender a metáfora e propor que bem comer[6] e bem amar percorrem o caminho da suspensão da devoração do fruto para que, no encontro de Hélène Cixous com Clarice Lispector, em “Vivre l’Orange/Viver a laranja”, coexistam a maçã e a laranja; ou que, no tempo, a maçã retorne como Orange.
Assim é que, seguindo os rastros acima, em tradução livre, proponho traduzir Ève — o nome da mãe de Hélène, quando ressoa rêve — para Sonia, quando ressoa sonho. Na sobrevida, a palavra renasce outra, em mais de uma língua, como aponta Derrida em O monolinguismo do outro ou a prótese de origem (1996), para dizer de um ponto de irredutibilidade da desconstrução. Da leitura de Lispector por Cixous, tentei mostrar como podemos desenhar uma teoria da tradução, como oublire, condensando oublier (esquecer) e lire (ler), e como coexistência do “mais de um”.
Da maçã à laranja, Cixous rasura o fruto proibido, apaga a cena da perda do paraíso em que Ève é a protagonista, desloca um mito fundador bíblico para o nascimento, para o recém-nascido na borda da língua desconhecida, para a infância, para a cidade natal Oran. Desloca a sonoridade de pommes — em que com Hache se faria homme — para Orange e, a toda velocidade, evoca e corta o nome do pai, Georges, para deixar ressoar Or. Recordemos o livro Or — lettres de mon père e deixemos ressoar outros cortes: Je, Je’t, Jet, Ange, para escrever corto, crio asas, lanço. Fooort-Daaa!
E, outra reviravolta: o mesmo fio que traz para perto a laranja, a afasta e traz de volta a maçã. Cito: “Eu devo a uma mulher uma maçã viva. Uma alegria de maçã. Devo a uma mulher uma obra-maçã. Eu devo: um nascimento à natureza de uma mulher: um livro de maçãs. Para as mulheres.”[7] É notável que a maçã retorne justamente em um fragmento em que vigora um forte jogo entre pomme e femme. É notável que Cixous também escreva que o lugar de Clarice supõe as mulheres vivas, “antes de qualquer tradução”. E, um parágrafo depois, escreve que, no tempo em que os ouvidos estão mortos, “precisamos de tradução”. Hélène recebe Clarice traduzindo maçã em laranja. Recebo Hélène, como em um sonho em Salvador[8], chamo por Ève, escuto Sonia. Se há mais de uma língua: o alemão, da mãe e do tio Freud; o inglês, de Shakespeare e de Joyce; o francês, de Derrida e da escrita. Há, enfim, o português do Brasil, de Lispector.
Ayaï! ouvir o grito da literatura, em mais de uma língua
Ayaï, o grito da literatura foi pronunciado como uma conferência nos Estados Unidos, em um departamento de estudos francófonos, e, certamente, seu modo de enunciação coloca em jogo novos destinos da crítica e da teoria, novos modos de repensar a literatura. Borrando as bordas, Cixous arrebatará para a conferência cenas autobiográficas, associações singulares entre obras canônicas, de modo homólogo ao que fizera em A chegada da escrita, quando, para pensar a interdição da escrita às mulheres, dará forma à sua revolta com cenas autobiográficas.
Sabe-se que tal procedimento não é inédito pelo menos desde 1929, ano da publicação do famoso ensaio Um quarto só seu, de Virginia Woolf, que também surgiu como conferência e desconstruiu a ideia da existência de uma escrita adequada para cada gênero. No rastro da invenção woolfiana, para se colocar contra a oposição masculina à escrita de mulheres, interrompem-se as fronteiras próprias ao literário, ao autobiográfico e ao teórico, gerando assinatura de textos insubmissos como os de Shoshana Felman, Barbara Johnson, Adriana Cavarero e Hélène Cixous, precedidas por Mary Shelley, por Clarice Lispector ou pela própria Virginia Woolf.
No título Ayaï! O grito da literatura, a literatura não está nem no grito, nem na literatura — nunca idêntica a ela mesma. Ela está no “da”: traço de união, porque traço de separação. Um hífen está escrito, mas não lido em voz alta. Em encontro, em disjunção, nasce o ouvido. Em Ovídio, do sangue de Ájax, nascem flor e, entre pétalas, letras: Aiaï de Ájax, nascida de nada, flor de ferida, Cixous. Sei que a literatura começou.
Vida longa a ela que me ressuscita, diz a tradutora. Diz a quem? Um grito responderá? Talvez ele tenha sido ouvido na biblioteca tumular de Yale, no começo deste século, ou terá sido antes?
Estão todos vivos, responde o sonho. Abram seus ouvidos.
Flavia Troccoli é professora da Faculdade de Letras da UFRJ, doutora em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e cofundadora do Centro de Pesquisas Outrarte – a psicanálise entre a ciência e a arte (IEL/Unicamp). Coorganizadora dos livros Um retorno a Freud (2008), Giros da interpretação (2016), Teoria literária e suas fronteiras e Da sublimação à invenção (2021). É autora de A inútil paixão de ser: figurações do narrador moderno (2015) e de Hélène Cixous, a sobrevivência da literatura (Bazar do Tempo, 2024). De Hélène Cixous, traduziu o livro Ayaï, o grito da literatura, coordenou a tradução coletiva de A chegada da escrita e é autora do posfácio da edição brasileira de O riso da Medusa. Pesquisadora do CNPq e da FAPERJ.
- Que ressoe a pergunta de Mireille Calle-Gruber em torno da formulação de Cixous, em Déluges, segundo a qual Clarice se deixa ir. A não mestria da escrita não implica passividade, mas um se deixar ir. Nesta direção, este ensaio é iluminador dessa questão também cixousiana. Cf.: Cixous e Calle-Gruber, 1994, p. 47. ↩
- A tradução foi realizada a partir da versão publicada em livro. No final do texto, a própria Cixous indica a publicação em 1976. ↩
- CIXOUS, H. L’amour du loup – et autres remords, p. 98. (Tradução minha). ↩
- Cixous, 1974, Prénoms de personne, quando ela propõe reler Freud, Poe, Hoffmann e Joyce além dos paradigmas falogocêntricos. ↩
- Ver Perto do coração selvagem (1944), de Clarice Lispector. ↩
- Através de um meridiano imaginado com Paul Celan, tentei transitar entre aquilo que Derrida conversa com Jean-Luc Nancy em “É preciso bem comer” para tocar as primeiras lições do seminário de Cixous É preciso bem amar. [1992/(2004–2007)] — alterando a tradução de Denise Dadeau e Carla Rodrigues. ↩
- Cixous, 2022, fragmentos recolhidos por mim entre as páginas 43 e 65 de A hora de Clarice Lispector, na tradução de Marcia Bechara. ↩
- Refiro-me a um sonho durante minha participação no simpósio “Ler o poema em tradução: da redução instrumental à singularidade do poema traduzido como dispositivo crítico e forma de vida”, organizado por Marcos Siscar, Maurício Cardozo e Pablo Simpson, no Congresso Internacional da ABRALIC, em 2023. ↩