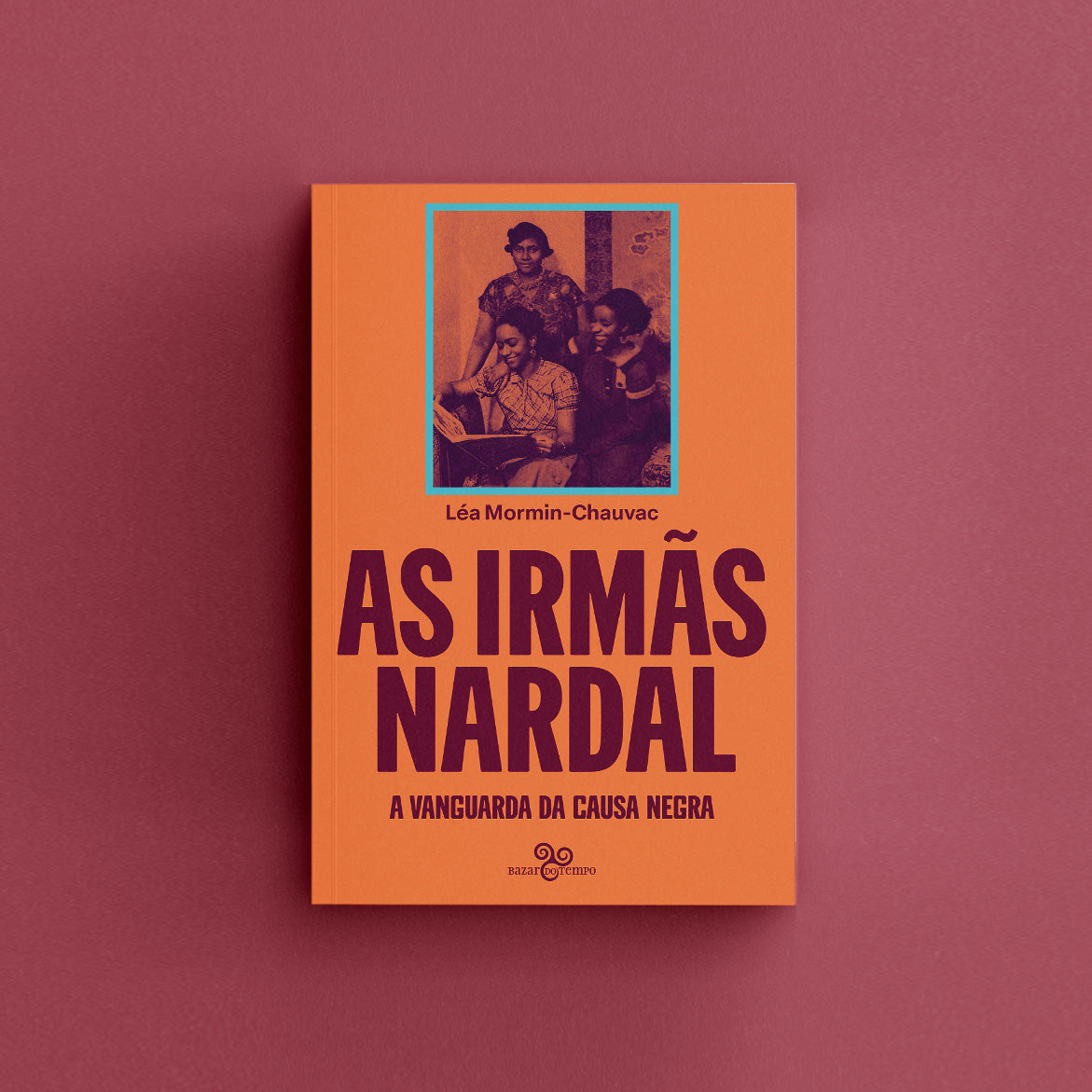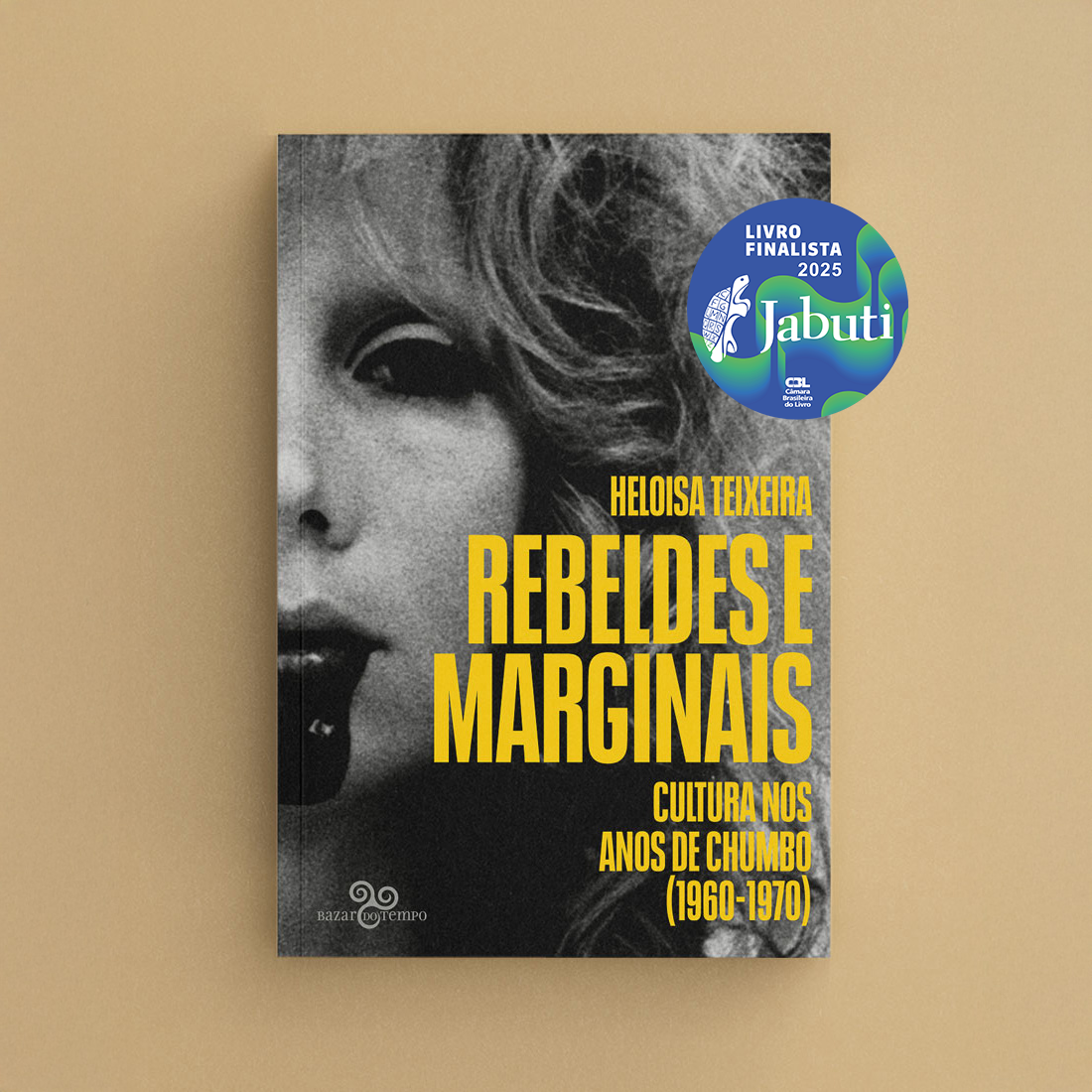Por Pedro Paulo Malta
Ao folião que desembarca na Praça Onze, uma das estações do metrô carioca que dão acesso ao Sambódromo, recomenda-se não procurar a praça. Cadê os bancos? O gramado? As crianças na gangorra? O laguinho ou chafariz? Cachorrinhos se aliviando nos postes? Nada disso. É que, diferentemente das outras 40 paradas do metrô do Rio de Janeiro, esta leva o nome de um lugar que não existe. Ou que talvez até exista, mas de outra maneira. E que não está no mapa desde meados da década de 1940.
O nome da estação é, na verdade, uma homenagem à Praça Onze de Junho, assim batizada em homenagem à Batalha do Riachuelo (1865), vencida pelo Brasil, num capítulo importante da Guerra do Paraguai. Já a praça, infelizmente, foi varrida do mapa juntamente com tudo que estava no caminho dos tratores e escavadeiras a serviço de abrir a Avenida Presidente Vargas. Residências, escolas, bares, salões de dança (entre eles a famosa Kananga do Japão), um naco do Campo de Santana – onde ficava a Prefeitura do Rio – e igrejas bicentenárias, entre elas a de São Pedro dos Clérigos, com sua nave oval, rara na arquitetura brasileira.
A Praça Onze, no meio de tanta história, era onde conviviam judeus, ciganos (ambos emigrados, sobretudo, do leste europeu) e negros libertos. Povos que não costumavam ser bem-vindos nos salões da sociedade carioca e muito menos em parte da Europa, naqueles anos tenebrosos da Segunda Guerra Mundial. Mas na Praça era diferente: tinha sorvete a um tostão na Confeitaria Frigele, do Seu Hirsch – ou Henrique, pros daqui – Eidler. Arenque temperado no Restaurante Schneider. Ou o choro e o samba na casa de Tia Ciata, a mais conhecida das baianas (mães-de-santo, quituteiras, líderes comunitárias) que moravam por ali.
Pois foi nesta casa – na Rua Visconde de Itaúna, nº 117 – que, numa festa duradoura, cantou-se pela primeira vez o famoso “Pelo telefone”, que a história registra como “o primeiro samba”, mas na verdade foi o primeiro a fazer sucesso. Com autoria de Donga e Mauro de Almeida (embora tenha sido uma criação coletiva, segundo relatos), foi o mais cantado no carnaval de 1917, trazendo definitivamente pro nosso vocabulário a palavra samba. Por isso se diz que ele nasceu lá, embora a gente saiba que gênero musical não nasce, não brota. E embora na Bahia se pense diferente, mas aí é outra história.
O que ninguém contesta é que foi na Praça Onze que se viu pela primeira vez um desfile competitivo das escolas de samba, em 1932. Aliás, um só não. Os onze primeiros desfiles foram ao redor dela, circulando entre as ruas que a delimitavam: a Visconde de Itaúna, a de Santana, a Senador Euzébio e a Marquês de Pombal. Tempos gloriosos em que as agremiações, que não chegavam a cem componentes, subiam num tablado para evoluir diante do júri e os cantores – no gogó, sem microfone – eram acompanhados por uns 15 ritmistas, com a marcação reforçada pelo arrastar das sandálias das mulheres: xá-xaxá, xá-xaxá...
Assim, quando Getúlio Vargas decretou que se abrisse uma avenida com seu nome e, para isso, demolissem tudo que estivesse pelo caminho – a primeira marretada foi no dia de seu aniversário (19 de abril) em 1941 – o povo do samba não gostou. Se revoltou. Sentiu medo. Daí veio um clássico do samba: a composição de Grande Otelo e Herivelto Martins que o cantor Castro Barbosa e o Trio de Ouro gravaram em 25 de dezembro desse mesmo 1941 e se tornou um dos mais populares do carnaval de 1942:
Vão acabar com a Praça Onze
Não vai haver mais escola de samba, não vai
Chora o tamborim
Chora o morro inteiro
Favela, Salgueiro, Mangueira – Estação Primeira
Guardai os vossos pandeiros, guardai
Porque a escola de samba não sai
Curioso como, dali a dois carnavais, outro samba de Grande Otelo e Herivelto Martins mostrava como eles já pareciam resignados com as obras, já na fase final naquele início de 1944. Menos mal que este samba, gravado somente pelo Trio de Ouro, não teve a repercussão do anterior:
Lá vem a nova avenida
Remodelando a cidade
Rompendo prédios e ruas
Os nossos patrimônios de saudade
É o progresso
E o progresso é natural
E muitos outros sambas dessa época versaram sobre o fim da Praça. Alguns resignados, como “O samba não morre” (Marino Pinto e Arlindo Marques Jr., 1944). Outros adesistas, como “Vem surgindo a avenida” (Gastão Vianna e Benedito Lacerda, 1943), com direito a malandro getulista cantando sua regeneração: “A farra abandonei / Hoje sou trabalhador...” E ainda alguns consolos, como o que Geraldo Pereira deu em “Voz do morro”, gravado por Moreira da Silva em fins de 1942:
Separem seus tamborins
A Praça Onze acabou
Mas nós temos onde brincar
Por isso não vamos chorar
Teve choro, sim. Mas as escolas de samba, de fato, tiveram onde brincar. Primeiro, no Estádio de São Januário, nos carnavais de 1943 e 45. Depois, em torno do obelisco da Avenida Rio Branco, em 1944. E também na própria Presidente Vargas, a partir de 1946. Desse ano, aliás, é outra pérola do adesismo, o samba “Obrigado, general”, em que Herivelto Martins (aqui parceiro de Benedito Lacerda) agradece ao sucessor de Vargas, Eurico Gaspar da Dutra, por um milagre de proporções bíblicas: “Quem já chorou sua destruição / Agora festeja a ressurreição”.
É que, no fim das contas, a praça ficou. Mas só ela, com seus banquinhos, postes e arbustos – o chafariz central, projetado pelo arquiteto parisiense Grandjean de Montigny, já tinha sido removido para a Praça Afonso Vizeu, no Alto da Boa Vista, onde aliás permanece até hoje. Nada do casario, da Confeitaria Frigele, do Restaurante Schneider, da casa de Tia Ciata... Pois a Praça Onze, muito mais do que aquele retângulo que sobrou entre as pistas da nova avenida (inaugurada em 07-09-1944), era antes um bairro – com seus residentes, o movimento do dia-a-dia, uma vida própria.
Mas a pracinha melancólica, que continuou ali, defumada pelos automóveis, ônibus e lotações, só servia mesmo para dar saudade da outra, como se percebe no “Rancho da Praça Onze”, composição de João Roberto Kelly e Chico Anysio que Dalva de Oliveira gravou em 1964, às vésperas do quarto centenário de fundação da cidade:
A praça existe, alegre ou triste
Em nossa imaginação
A praça é nossa, e como é nossa
No Rio quatrocentão
A pracinha não sobreviveu aos anos 1960. Pouco depois da marcha-rancho de Kelly e Chico, desapareceu de vez no finzinho da década, com o início das obras do metrô. O mesmo que, inaugurado só em março de 1979, tinha seu nome numa das estações terminais de seu primeiro traçado: da Glória à Praça Onze, embora esta não fosse localizada exatamente ali. Segundo relatos dos mais-velhos, ela ficava onde está – desde 1986 – o Monumento a Zumbi dos Palmares, num canteiro entre as pistas da avenida.
Do alto de uma pequena pirâmide de concreto, a cabeça de bronze do grande líder quilombola – que, na verdade, reproduz uma escultura de Obá Oni, antigo rei de Ifé (Nigéria) – é mais um elemento da paisagem que passa depressa pela janela do automóvel, ônibus ou seja qual for o meio de transporte que acelera pela autopista. Só no carnaval, com o trânsito interrompido, é que, no lugar dos bólidos, engarrafam-se carros alegóricos, alas fantasiadas e rainhas de bateria saradas, na concentração para entrar na Avenida Marquês de Sapucaí, por onde as escolas de samba desfilam desde 1978.
Monumentais e vaidosas, como vemos pela TV, não lembram em nada as escolas do tempo do tablado, do canto no gogó, das sandálias a marcarem o ritmo no chão. Mas será que sabem do tanto que ficou por debaixo do asfalto? Dos sambas imortais que passaram por ali? Da história apagada em nome do progresso? Pois é graças a estas memórias – e ao gingado das passistas, à elegância natural da velha-guarda e das baianas, ao balé do casal de mestre-sala e porta-bandeira e à pulsação da bateria – que a Praça Onze não morre. Revive do seu jeito, a cada novo fevereiro.
Pedro Paulo Malta é cantor, jornalista, pesquisador, redator e apresentador de rádio. Carioca de raiz, portelense e botafoguense, constrói sua trajetória entre a música, a comunicação e a produção de conhecimento, sempre atento às culturas populares.