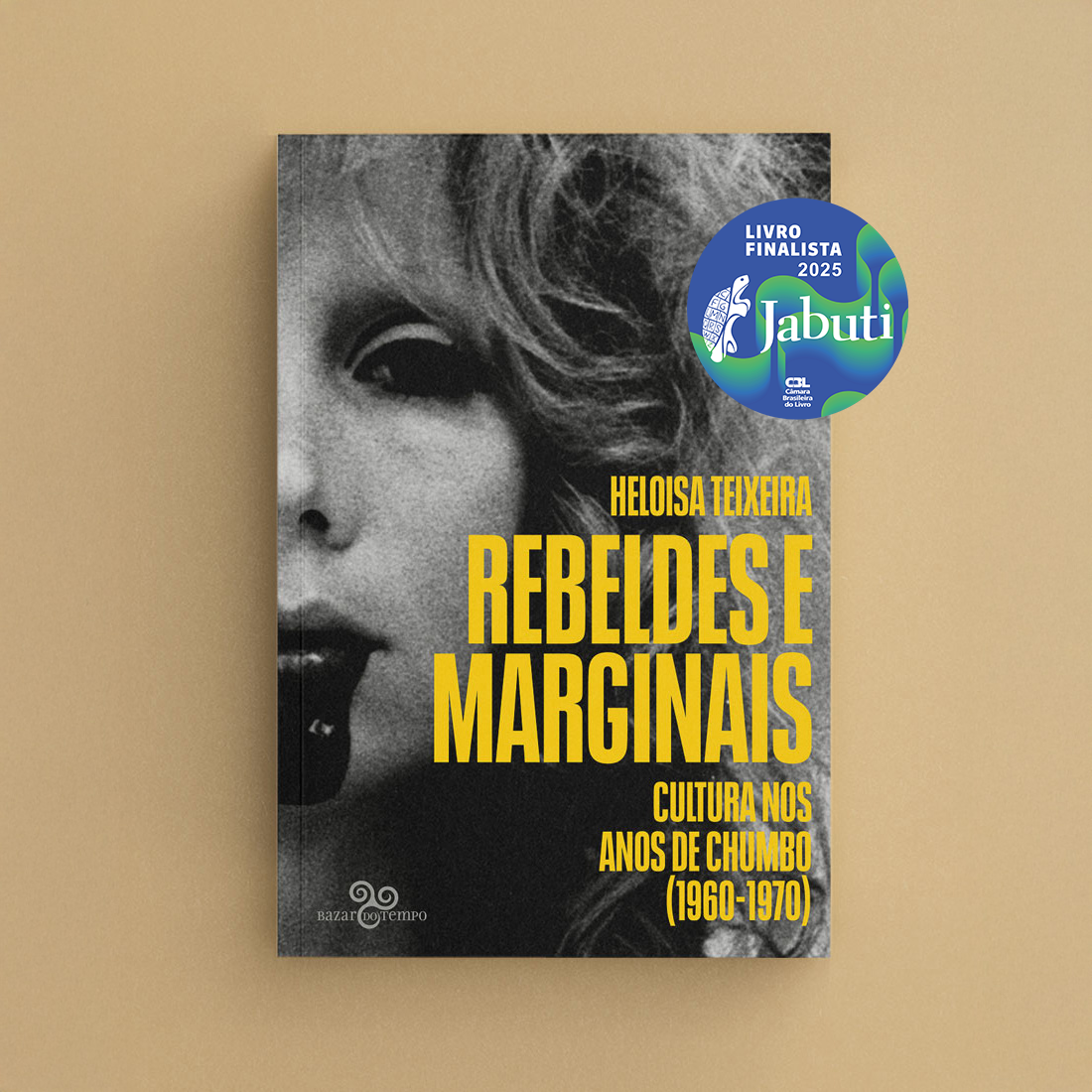por Ana Kiffer
para não sentirem o fardo incrível do tempo (...).
Charles Baudelaire
Ela voltou aos seus dias infindáveis guardando entre os dentes um resto do suor dos corpos que caíam agora sobre as letras do papel.
Começou passando fio a fio tudo o que nenhuma imagem havia retratado daqueles dias. Porque sabia que nesses tempos as fotos contam sempre antes, precipitando qualquer palavra, ou inutilizando-a. Viu o que ninguém conseguiu retratar, e viu porque viveu. Decidiu que contar era uma forma de seguir com um pé para fora da sobriedade entediante, vazia, que confunde contar com acumular ou, com sorte, com repartir. Ela queria ficar com o que parte, queria continuar, queria seguir partindo. E foi assim, por um bom tempo, sem nome ou título.
Seguiu, sobretudo, sem verdades, sem zonas verdes, sem passaporte, sem passe-partout e clichês endemoniados. Seguiu sem auto depoimentos. Mesmo sobre o vivido. A sobriedade confunde o vivido com o que se conta dele. Perdemos o tempo dos ditos populares -- quem conta um conto aumenta um ponto. Mas ela não esquecia, nem do ditado, nem dos restos do vivido que ainda se espalhavam pelos cantos da sua casa: um montinho de purpurina, um fio de pelo que não era o seu, latas velhas e um cheiro indescritível.
Antes de seguir voltou a Marguerite, claro. Não passa uma festa da carne sem consultar a velha bruxa sobre os seus tantos amantes perdidos, sem nome ou lugar.
No fundo sabia que voltava para ouvir de novo o que já estava diante dos seus próprios olhos mareados: que eles estavam face à estrada vazia, e que atrás da estrada as cidades estavam apagadas, e os parques impenetráveis. Atrás dos parques, a opacidade, o intangível. O fim da música e os corpos recolhidos.
Ela lê a bruxa e observa que ele é quem retoma a letra. Mas é ela quem sempre escreveu. (não terei tempo para contar quem foi ele, mas era com ele que ela habitava os dias sóbrios e cinzentos da vida).
Ela escreve em silêncio, e já não apaga mais a sua própria letra, mesmo quando ele a espreita, ou quando ela teme perder o fio fino da palavra.
Incapturável, pensou! Era essa a palavra exata a que buscava: incapturável a sua letra, o instante, o próprio tempo, os corpos, a atmosfera feérica, o balanço sem fim, os rodopios, as gargalhadas sem piada, os beijos roubados, a muvuca constante, e o ritmo que fazia das longas caminhadas um passe de pés, um passe de mágica.
Os corpos viviam, nesse intervalo incapturável de forma in-de-ter-mi-na-da! Sem que pudéssemos prever seja lá o que for. Permaneciam todo o tempo juntos, por um segundo, ou por um ano.
Numa dessas noites sem fim se perdeu da manada e avistou um minúsculo bar, atrás do Teatro Municipal. Sua pequenez atraiu a sua atenção transeunte. Viu as luzes azuis, os azulejos brancos e azuis, e os ovos cozidos cor de rosa na vitrine. Rosa como o seu batom, o seu sutiã e a purpurina daquela noite. Todos os dias, antes de sair de casa batizava o seu corpo com uma cor, que povoaria os seus passos pela cidade. Ao final, todas iam se misturando, formando camadas de pele purpurinadas, deixando restos pelo ruas da cidade e o chão de toda a sua casa, com o suor, e o gosto de arranhão a cada corpo que se esfregava ao seu.
Dentro do bar viu a juke-box tocando reggae, e pensou: por que aqui não chega o samba? O batuque incontrolável que vivia debaixo da sua carne já fazia alguns dias. Dentro do bar em miniatura alguns dançavam apertados, atônitos, exauridos. Do lado de fora um homem corpulento, com o torso repleto de pelos se encontrava sentado sobre uma cadeira de ferro branca. Ela pensou que ele podia ser o dono do estabelecimento, o segurança, ou apenas mais um que findava o quarto dia rezando pelo descanso que não chegava.
Sem saber por que razão apenas olhou para ele, e se aproximou lentamente. Logo, deixou escorregar um pouco, sobre o seu ombro esquerdo o quimono de seda creme que cobria o seu corpo quase nu, feito de purpurina, biquini e soutien rosas. Olhou novamente para ele, que mesmo sem sorrir parecia lhe convidar, como fazem os ursos antes de te devorarem, com o olhar cândido e ameno.
Sobre os seus pelos densos e arruivados do torso havia um acúmulo de purpurina azul. Pensou que preferia que fosse verde, para se misturar ao seu rosa e torcer pela existência da árvore, da fruta e da escola que mais amou em toda a sua vida. Mas não pensou mais do que isso. Logo, levantou uma das suas longas pernas com uma agilidade lancinante para a sua idade, e com ela atravessou todo o corpo do homem ali sentado, fazendo quase uns 90 graus para poder chegar a se sentar sobre ele, na mesma cadeira branca.
Já sentada sobre o seu grande corpo, as suas pernas faziam uma abertura de quase 180 graus. Sentiu estirar alguns músculos finos de suas virilhas. Pensou que se levantar já não seria possível, que iria findar a noite por ali mesmo, a hora já era avançada, umas três da madrugada. Em pouco tempo voltaria o dia e já não se reconheceriam.
Os dois corpos intercambiavam purpurinas, azuis e rosas. E beijos sem cor. As línguas lambiam áreas extensas, além dos lábios para fora e para dentro deles. Ali, sentados sobre uma só e mesma cadeira branca de ferro, ela sentia a robustez sob o seu corpo. Lhe alegrava como se sentou sobre ele sem pedir licença. E ainda mais como conseguiu, sobre toda a sua massa corporal, colar cada parte do seu corpo ao dele. Sentia o seu sexo, e pensava em como tudo deveria estar purpurinado, além de duro. Molhavam-se de lambidas e de desejo. A rua estava vazia.
Ninguém deve ter tirado sequer uma foto, ela disse.
Mas se tivesse existido, essa foto teria sido mais perfeita do que o próprio momento vivido. Seria também esdrúxula, como tudo o que se passava naqueles dias. Muitos de nós saíamos vestidos de redes de pescadores como se fossem meias, deixando que todo e qualquer objeto a elas se colassem. Como um desejo manifesto de mostrar a poluição dos nossos mares. Para tudo isso, e até para a cadeira, o homem, o beijo, as suas pernas abertas em 180 graus sobre ele no meio da rua da grande cidade do Rio de Janeiro, e as redes de pescadores sobre os corpos transeuntes, e as purpurinas de todas as cores, para tudo isso usávamos um só e mesmo nome: fantasia.
É que faltam nomes que expliquem essa época do ano, esse tempo sem tempo. Faltam conceitos. Os que existem são velhos e já não colam, como colam as purpurinas mais modernas e fluorescentes. Até mesmo o mais real dos mundos ali se tornava fantasia. Não havia outro nome.
Era assim que ela chegava ao fim do seu carnaval inesquecível. Adentrava o início da nova era de aventuras prenunciadas por cada mínima purpurina, lambida até o último gole, amarrada às redes corpóreas que arrastavam garrafas, latas, beijos, e todos os desejos e dejetos ainda sem nome que não seja fantasia.
Ela e o urso se tornaram amantes pós-carnaval, mas ela não sabe quanto tempo tudo aquilo durou.
Porque há uma coisa que todo carnaval transforma. Esta coisa inexplicável é o que nós escritores chamamos, desde o início do século passado, como sendo o sentimento do tempo.
Ana Kiffer é escritora e professora de Literatura na PUC-Rio. Na Bazar do Tempo é autora de No muro da nossa casa, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2025, Ódios políticos e política do ódio (2019), com Gabriel Giorgi, e coordenadora da coleção Édouard Glissant.