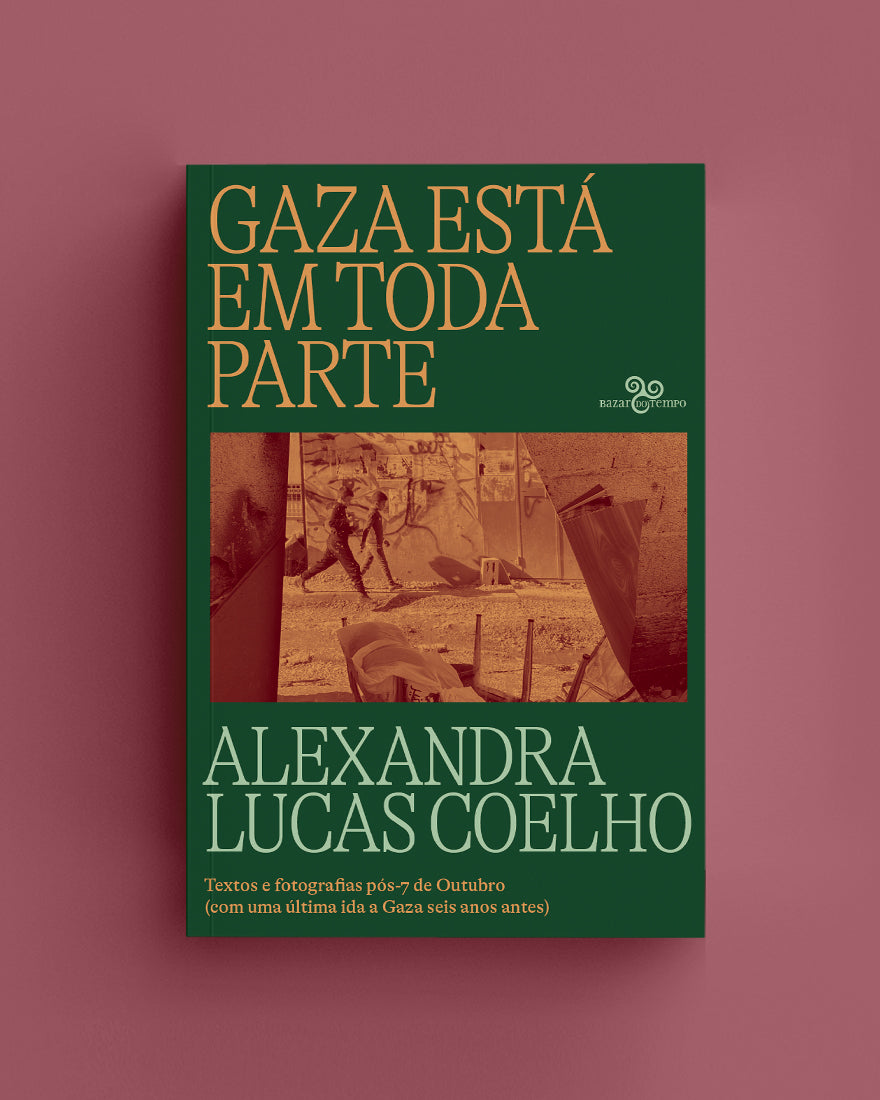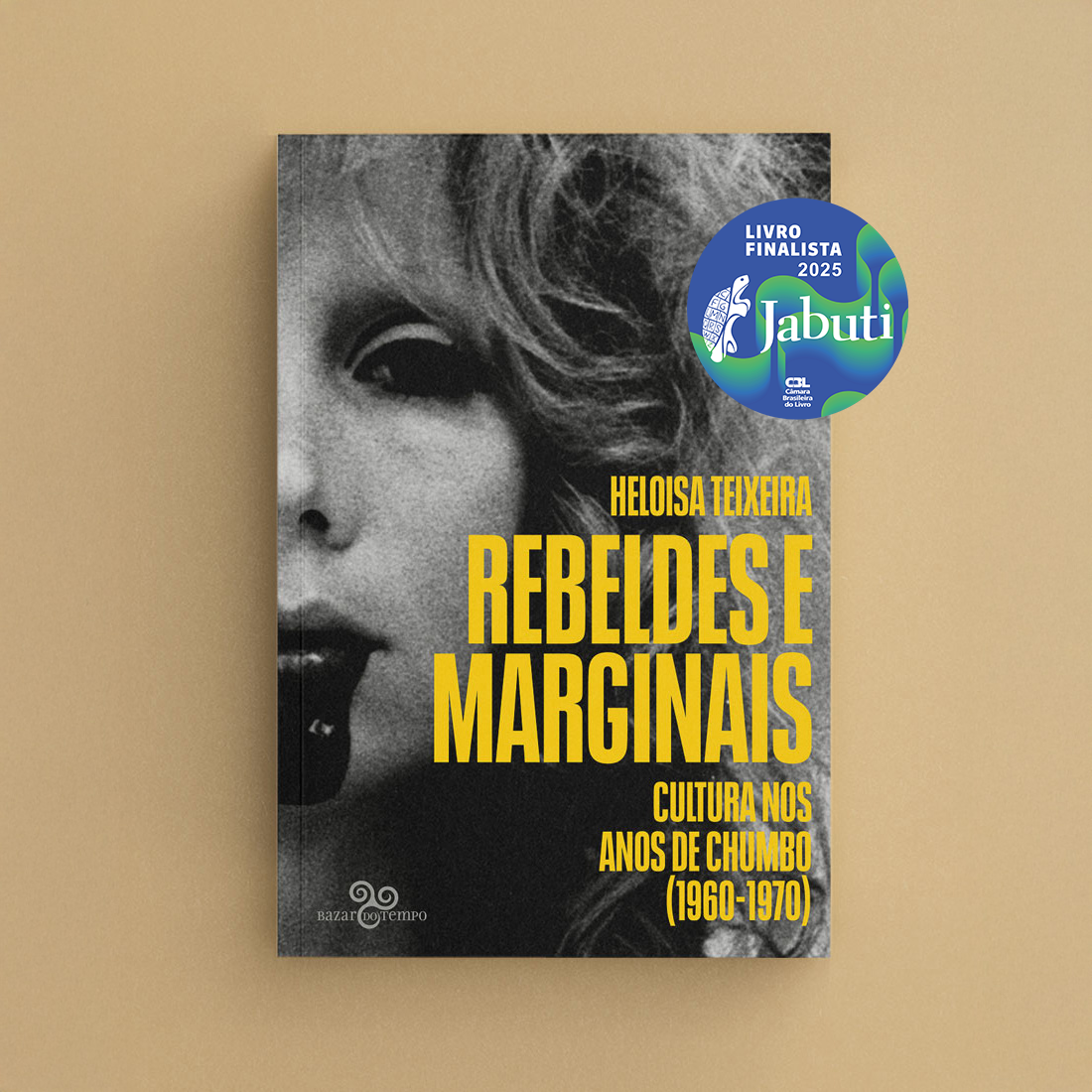Alexandra Lucas Coelho
1. “Não sabíamos”, diz a Europa desde Auschwitz. O Holocausto foi o mal só suportável no futuro humano porque “não sabíamos”. Gerações após gerações juraram nunca mais, acreditando que saber teria feito toda a diferença.
Hoje sabemos que não. Dois anos após o 7 de Outubro, Gaza mostra como tantos de nós vêem o mal mais atroz, superado em crueldade dia a dia, sem que isso faça diferença. Claro que se condoem das crianças amputadas ou esfomeadas quando elas aparecem no ecrã, mas não apontam o mal que as mata diariamente (cem palestinos por dia, uma criança por hora). Não isolam esse mal nem quem o executa, diluem-no nos intermináveis males do mundo, ou porque não querem chatices ou porque não querem pensar: sabem mas não querem saber. Tantos de nós — e todos eles humanos. Todos com o privilégio de, no seu tempo de vida, verem a Palestina resistir ao mal com uma grandeza da ordem do mistério. O que significa também ter diante dos olhos o mais amplo espectro humano alguma vez exposto.
Sim, agora sabemos. E se comecei pela Europa não foi apenas como europeia mas porque Israel é uma cria da casa, esta grande casa colonial. Aqui foi gerado décadas antes do Holocausto, com costelas que não eram bíblicas, nem nossas.
2. Em dois anos, o 7 de Outubro deu a volta à Terra e à História. Um alcance que ninguém podia supor naquela manhã, começando pelos que lideraram o ataque. Os efeitos continuam a deflagrar para trás no tempo, e para longe no espaço, até à ilha de águas pristinas, algures no Índico ou no Egeu, onde hoje o israelense que tira férias do genocídio encontra, escrito numa pedra: “No genocidal maniacs. No IDF soldiers.” Ou apenas “Palestine will be free.” Porque o ataque liderado pelo Hamas a 7 de Outubro foi, na verdade, muito mais letal do que os 250 reféns, os 1200 mortos (parte deles pelas próprias forças israelenses). Não só acabou com o statu quo em vigor desde Oslo como fez cair o biombo com que o Ocidente tapava a história anterior a Oslo. Uma bomba de que ainda não avistamos toda a potência. Netanyahu & colonos viram nela a grande oportunidade para completar a limpeza étnica, prosseguir a expansão (e ainda não sabemos o quanto contribuíram para o 7 de Outubro, quantos dos kibbutzim, das soldadas de vigia, dos jovens na rave foram na verdade sacrificados no altar da Grande Israel; muito continua a vir ao de cima). Certo é que Israel passou os últimos dois anos a explorar o ataque, espezinhando a lei internacional e as Nações Unidas com a ajuda dos EUA, de boa parte da Europa e de quase todos os regimes árabes. Mas isso também fez do 7 de Outubro a bomba da autodestruição de Israel.
Entretanto, pelo mundo, para as gerações mais jovens e no mainstream em geral, abria-se como nunca a panorâmica daquilo a que Rashid Khalidi chamou a guerra de 100 anos contra a Palestina, e vai já com mais de 125, contando desde a fundação do sionismo moderno nos textos de Herzl, que já anunciavam a Nakba, a erradicação dos palestinos.
Que tinham os palestinos a ver com Herzl? Nada. Eram só os nativos da terra para onde a velha casa colonial ia finalmente mandar os judeus que perseguia há séculos. Uma solução em que se aliaram sionistas e antissemitas reciclados, uns porque eram perseguidos, outros para se livrarem deles. Quantos aos nativos, é da natureza da colônia assegurar que não sejam um obstáculo.
O 7 de Outubro desenterrou assim a Nakba desde a raiz: como ela começou a ser preparada no fim do século XIX (com o empurrão do antissemitismo europeu) e levada a cabo em 1948 (com o empurrão da culpa do Holocausto). Como tudo isso foi tapado, mas reforçado em 1967, e de novo tapado com os Acordos de Oslo em 1993. Oslo é a mentira dos Dois Estados (em que só um existe, com toda a licença para encher a Cisjordânia de colonos, inviabilizando a existência do outro), mas é também a traição dos refugiados da Nakba. E o mundo premiou Oslo com o Nobel, chamou-lhe paz, como se aqueles refugiados não existissem, não fossem agora milhões de humanos aprisionados na Cisjordânia, em Gaza, esquecidos nos campos do Líbano, na Jordânia, na Síria.
Até que o 7 de Outubro trouxe 1948 de volta à conversa: às ruas do mundo, aos novos leitores de Khalidi, Edward Said, Mahmoud Darwish, Ghassan Kanafani ou Ilan Pappé (mas também de Frantz Fanon, de Aimé Césaire), resgatando, além da ocupação e do apartheid nos territórios ocupados em 1967, a história anterior da limpeza étnica da Palestina, das expulsões de Haifa ou de Jaffa, os milhares de casas roubadas, as centenas de aldeias destruídas. As ruínas do povo em cima do qual Israel come e dorme, surfa e dança.
Era tudo isto que já tinha acontecido quando se deu o 7 de Outubro. Aconteceu muitas décadas antes de haver Hamas e só acabará quando o último palestino puder voltar. Quando Jerusalém for de quem é: toda a gente.
3. Depois da condenação em 1962 de Adolf Eichmann (o funcionário nazi responsável pelo transporte de milhões de judeus para o extermínio), o filósofo judeu Günther Anders dirigiu uma carta aberta a um dos filhos de Eichmann. Vinte e cinco anos depois, uma segunda carta. Ambas formam o livro “Nós, Filhos de Eichmann”, que agora corre pelo mundo, depois de Anders ter sido esquecido por décadas [edição brasileira na Elefante]. Anders fora casado com Hannah Arendt, lera, claro, “Eichmann em Jerusalém”, a reportagem que ela fez do julgamento (depois transformada em livro). E é assombroso como as palavras dele, ligadas ao momento em que as escreveu, parecem escritas agora, talvez nunca tão assombrosas. Estas cartas são para Gaza, são para nós.
Anders sabia que o monstruoso — o Holocausto, Hiroxima/Nagasaki — é mais do que possível: provável, e o monstruoso que já aconteceu provavelmente acontecerá, talvez pior. Portanto, o Holocausto ou Hiroxima/Nagasaki não só são repetíveis como podem ter sido prólogos.
Desde o 7 de Outubro falamos de humanização e desumanização como se a humanidade fosse um grau. Mas não há mais e menos humanos, são todos humanos, Eichmanns, Netanyahus ou Mandelas. Os palestinos lutam porque são humanos, e nada do que Israel faça lhes pode tirar humanidade. Se pensarmos no humano não como um grau mas como um espectro, o monstruoso dentro do humano é que será o grau. Não sei o que Anders acharia disto, nem se há monstros fora do humano. O combate das nossas vidas, seja como for, é com o nosso. Esse que é elástico como um estômago, pode ser alimentado pela máquina expansionista do Estado, e por sua vez a retroalimenta. Década a década, a máquina sionista alimentou-o desde o berço. Só conheci Israel a partir de 2002, há pouco mais de uma geração, mas vejo o salto do monstruoso nesta nova fornada de soldados, de colonos. Geração a geração, o monstro conquistou muito. Quem hoje siga Israel, leia os seus jornais, veja as suas redes, observa um país aos brados dentro de uma bolha, alienado da História e do resto dos humanos, pelo menos dos goyim, os não-judeus. E ao fim de dois anos de genocídio o monstruoso continua a expandir-se. A pergunta do presidente da Colômbia é coletiva: como permitimos que um povo se declare o eleito de Deus? Como chegamos aqui?
Volto a Günther Anders: quando não vemos o retrato todo, quando nos tornamos analfabetos emocionais, o monstruoso surge. Durante décadas não fomos obstáculo à máquina de Israel. Mas, sendo o pessimista que é, Anders também nos diz que o falhanço é uma oportunidade. Essa oportunidade está a acontecer desde 7 de Outubro de 2023.
(...)
4. Quando aterrei a primeira vez na Palestina, há 23 anos, era um escândalo afrontar Israel. Há dez anos. Há cinco, mesmo. Falava-se em ocupação, estava na própria lei internacional, depois cada vez mais de apartheid. Mas a seguir ao 7 de Outubro ainda demorou para a palavra genocídio deixar de ser um choque. E mesmo hoje, depois de todos os peritos e organizações que a comprovam, há quem tenha combatido essa palavra e em vez de reconhecer que se enganou diz que, afinal, ser essa ou outra não importa. Claro que importa, e por isso tanta gente a combate em vez de combater o genocídio. Como se o problema fosse a palavra genocídio e não o próprio genocídio. Mas a violência está no sistema, não na palavra que o descreve, como aponta Mohammed El Kurd, um palestino que tinha quatro anos nessa vez que aterrei em Jerusalém. O bairro dele, Sheikh Jarrah, de onde até hoje os palestinos continuam a ser expulsos por colonos israelenses, foi o primeiro que conheci. Nesse tempo, era difícil conceber que um poeta e ensaísta palestino se tornaria uma estrela mundial, capa de revista. É o que se passa com El Kurd.
(...) Nunca se publicou tanto sobre a Palestina, nem tantos palestinos tiveram a palavra. Enquanto Israel deixou de ler. Não é metáfora, é um fato estatístico. Povo do Livro, sim, talvez mais do que nunca, hoje com milícias de replicantes da Torah nas colinas da Cisjordânia, mas já não povo de livros.
A Palestina não está só nas ruas do mundo, entre ativistas. Está no que se escreve, pensa e ensina, nas escolas, na cultura, na forma como as pessoas se vestem ou viajam, o que comem, o que boicotam. Está nos Óscares e em Veneza. Nos palcos dos festivais, com grande bandeiras. No centro do centro tal como nas pedras das ilhas remotas.
O 7 de Outubro mudou para sempre o horizonte de Palestina e Israel no mundo. E o pensamento ou a arte de quem escolhe não ver Gaza já está aquém, o que esses trabalhos possam ter a revelar sobre o humano tem um buraco para sempre. De certa forma é a inversão da célebre frase de Adorno sobre como seria bárbaro escrever depois de Auschwitz. Bárbaro será escrever (filmar, navegar ou costurar uma ferida) como se Gaza não existisse.
5. Onde estamos agora? Antes e além do reconhecimento da Palestina: é preciso reconhecer que Israel acabou, ou acabará conosco. Cortá-lo do conjunto das nações, começando por cortar todas as relações, todos os acordos, todos os negócios, boicotar tudo, onde doer.
Nenhum judeu de Telavive vale mais do que um palestino de Sabra e Chatila. Não há solução Dois Estados com Gaza aniquilada, 700 mil colonos na Cisjordânia, e todos os refugiados palestinos que faltam — haverá a solução Um Estado. Não há judeus ao mar nesse estado — haverá judeus com os mesmos direitos que toda a gente. E o único genocídio “desde o rio até ao mar” é o que Israel executa: agora, enquanto falamos. Como chegamos ao ponto de transformar a liberdade num crime antissemita? Que a Palestina seja livre desde o rio até ao mar será o direito mínimo, a partir do qual são devidas múltiplas reparações.
Se Oslo rebentou na Segunda Intifada foi porque se tornara insuportável. Se Gaza rebentou a 7 de Outubro foi porque estava 23 anos pior do que o insuportável da Segunda Intifada. Frantz Fanon morreu antes de tudo isso mas muito do que escreveu ressoa na Palestina, começando pelo básico: o direito do colonizado é lutar. Incluindo pela via armada, como os portugueses bem sabem, pelas lutas africanas de libertação que levaram ao 25 de Abril. Ou Aimé Césaire agora lido por Mohammed El Kurd: o colonizador é já alguém doente.
(Extrato do texto publicado a 5.10.25 no diário português “Público")